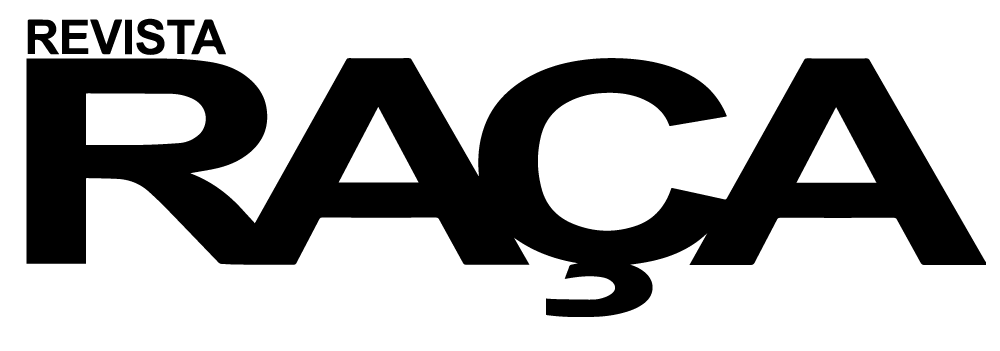Enquanto cresce o mercado de bonecas hiper-realistas (bebês reborn), mães negras solo e crianças reais seguem ignoradas pelo Estado e pela sociedade brasileira
Nos últimos anos, o Brasil tem assistido ao crescimento acelerado do mercado de bebês reborn — bonecas hiper-realistas que simulam com perfeição recém-nascidos. Produzidos com tamanha riqueza de detalhes que chegam a confundir até profissionais da saúde, esses “bebês” são vendidos por valores que variam de R$ 300 a mais de R$ 9.500. Algumas lojas chegam a faturar mais de R$ 40 mil por mês, oferecendo não apenas as bonecas, mas também roupas, fraldas, carrinhos, certidões de nascimento e até serviços simbólicos como “alta da maternidade”. Muitas mulheres tratam essas bonecas como filhos reais, com direito a consultas em postos de saúde, presença em shoppings com berço e até prioridade em filas de serviços públicos.
Enquanto esse fenômeno se espalha com contornos cada vez mais naturalizados pela sociedade e pela mídia, a realidade de milhares de mães negras solo no Brasil permanece ignorada — mães de crianças reais que enfrentam diariamente o abandono institucional e a ausência do Estado. Segundo o IBGE, 72% das mães solo pretas ou pardas estão abaixo da linha da pobreza e 22% vivem em extrema pobreza. São mulheres que criam filhos sem rede de apoio, com dificuldades de acesso a creches, a serviços de saúde básicos e a políticas públicas mínimas. São elas que enfrentam jornadas triplas, informalidade e discriminação racial interseccionada com o preconceito de classe.
Em contraste com o investimento emocional, financeiro e social nos bebês reborn, milhares de crianças reais aguardam adoção no Brasil. O Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA) aponta que há mais de 3.800 crianças e adolescentes aptos a serem adotados, enquanto o número de pretendentes ultrapassa os 46 mil. Essa aparente abundância de adotantes esbarra, no entanto, em um descompasso brutal entre o perfil dessas crianças e o perfil desejado por quem quer adotar.
A maioria das crianças disponíveis é parda ou preta, com idade acima dos 7 anos e, em muitos casos, faz parte de grupos de irmãos. Os meninos são maioria entre essas crianças, embora haja uma leve preferência por meninas entre os pretendentes. Além disso, quase 30% das crianças possuem algum tipo de deficiência — seja física, intelectual ou ambas. Ainda assim, a maior parte dos pretendentes busca crianças brancas, com até 4 anos de idade, sem irmãos e sem deficiências. Apenas 4,2% dos pretendentes aceitam adotar uma criança preta, e menos de 18% estão dispostos a acolher irmãos. Ou seja, não faltam famílias querendo adotar — o que falta é a disposição para acolher as crianças que de fato precisam de um lar.
Diante desse quadro, é impossível não se perguntar: para quem interessa a difusão dessa fantasia em torno dos bebês reborn? O que nos leva a investir tanto cuidado, atenção e empatia em bonecas hiper-realistas, ao mesmo tempo em que negligenciamos crianças reais que crescem institucionalizadas, e mães negras reais que sobrevivem à margem da cidadania?
Talvez a resposta esteja menos na maternidade e mais na conveniência. Bonecas não choram à noite. Não exigem compromisso legal. Não demandam escola pública de qualidade, nem creche, nem SUS. Adoção, por outro lado, exige um pacto com a realidade. E talvez por isso o bebê reborn esteja mais próximo do ideal de maternidade romântica, limpa, branca, controlada — enquanto a maternidade negra, real e desafiadora, continua sendo invisibilizada.
É hora de inverter essa lógica. É urgente olhar para as mães reais, para as crianças reais, para as dores reais. Não há nada de errado em buscar conforto emocional ou simbólico — mas há algo profundamente perverso em uma sociedade que normaliza a humanização de bonecas ao mesmo tempo em que desumaniza mulheres e crianças reais. O Brasil precisa fazer escolhas éticas mais honestas. E isso começa com a coragem de olhar para quem nunca teve o privilégio de ser visto.
[Os textos assinados não refletem, necessariamente, a opinião da Revista Raça].