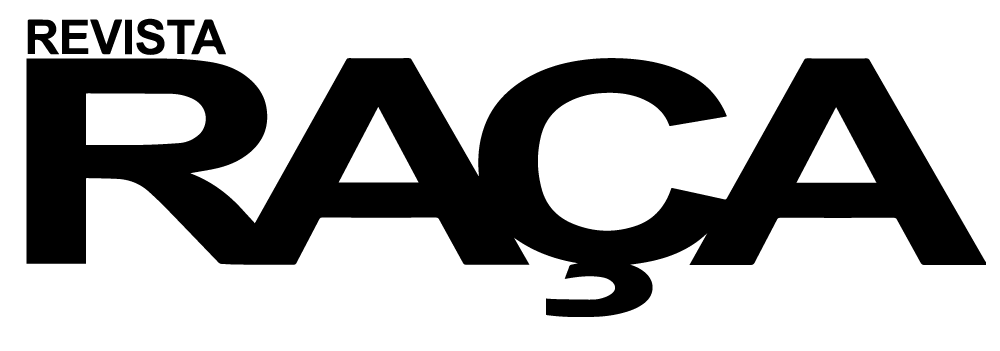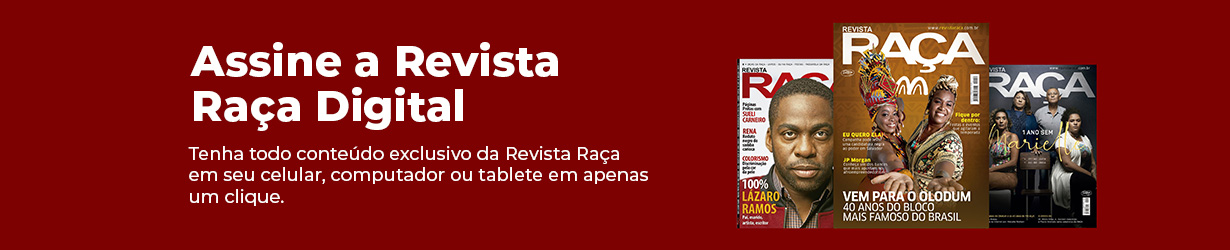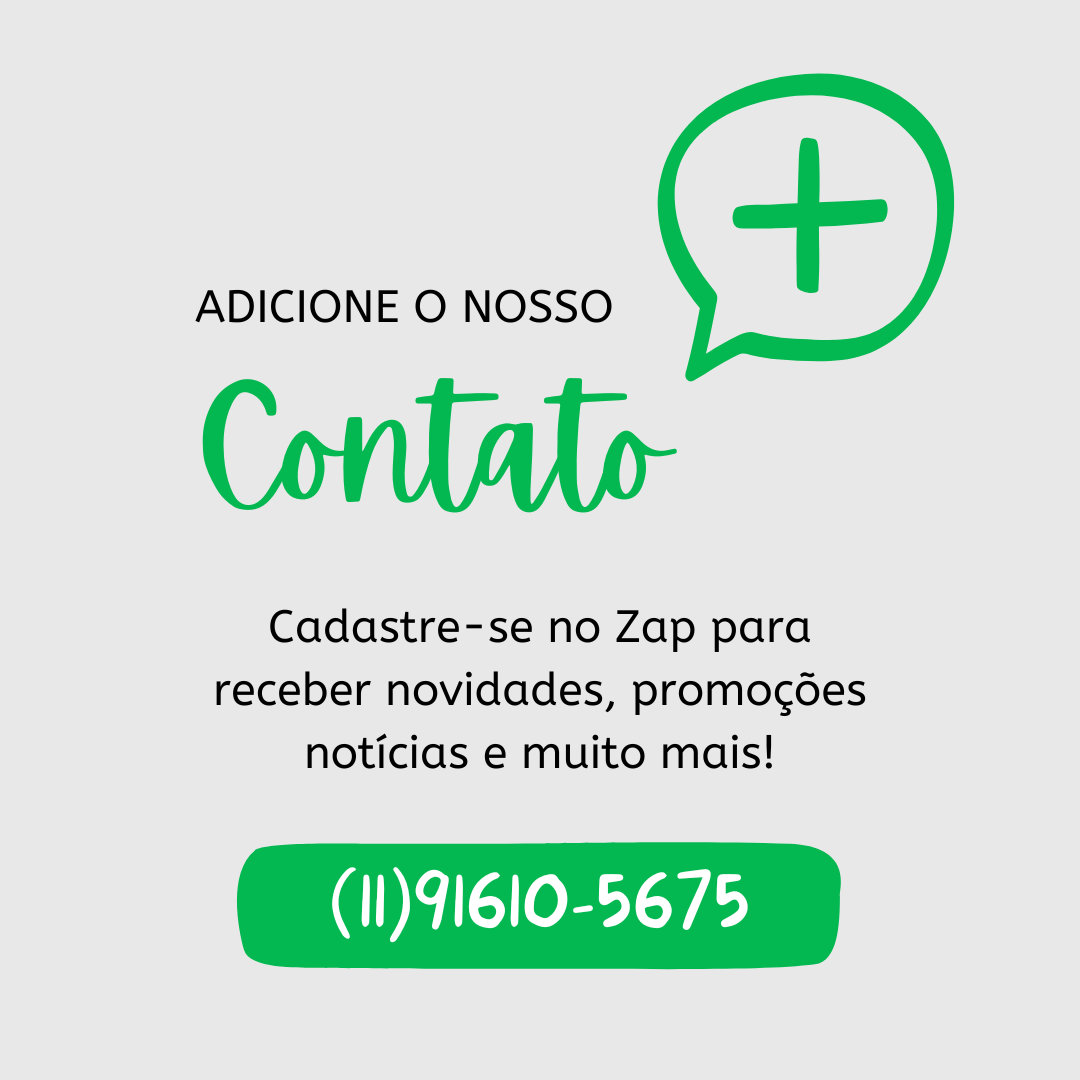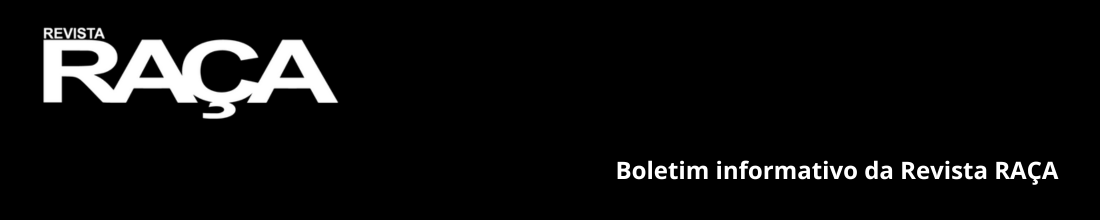Vivemos um tempo em que a inteligência artificial se tornou parte do nosso cotidiano com uma naturalidade espantosa. Se antes os buscadores, como o Google, já haviam nos ensinado a conviver com o saber ao alcance de um clique, agora é possível produzir textos, resolver problemas, montar apresentações, interpretar dados, compor músicas e até tomar decisões com a ajuda de algoritmos treinados para simular o raciocínio humano. À primeira vista, tudo parece um avanço e, de fato, há ganhos evidentes em agilidade, acesso à informação e produtividade. Mas, por trás desse encantamento, há uma pergunta incômoda que insiste em se repetir: o que perdemos quando deixamos que a máquina pense por nós?
Mais do que uma questão técnica, trata-se de um desafio ético, educacional e profundamente humano. A inteligência artificial não ameaça apenas funções e empregos; ela nos desafia a repensar a forma como desenvolvemos o pensamento, como nos relacionamos com o conhecimento e como estamos moldando as próximas gerações. Em um país com profundas desigualdades educacionais, a revolução tecnológica não chega igual para todos, pelo contrário, pode intensificar exclusões ao substituir, em vez de complementar, processos educativos baseados na escuta, na vivência, na oralidade, na empatia e na construção coletiva do saber.
A dependência crescente e silenciosa da IA e das telas digitais, especialmente entre crianças e adolescentes, tem contribuído para o enfraquecimento de habilidades fundamentais como a fala, a escrita, o desenho, o movimento corporal, a criatividade e a expressividade. A infância, antes vivida em brincadeiras coletivas, esportes, oficinas de arte e jogos simbólicos, dá lugar a um cotidiano solitário, mediado por telas que anestesiam a curiosidade e isolam os afetos. Os momentos de convivência entre adultos e crianças tornam-se raros, os silêncios partilhados desaparecem, e o tempo livre, aquele que serve para criar, imaginar e simplesmente estar com o outro, vai sendo substituído por uma hiperatividade artificial.
Esse empobrecimento afetivo e simbólico é agravado por modelos educacionais que, nas últimas décadas, foram sendo moldados sob a lógica da produtividade, da padronização e da empregabilidade, deixando de lado a experiência sensível, o território, a oralidade e o repertório ancestral de cada aluno. Como lembra o educador Tião Rocha, toda criança já chega à escola sabendo muitas coisas, mas, ao entrar nesse espaço, muitas vezes é levada a silenciar o que sabe para se encaixar em um modelo de pensamento normativo, repetitivo e descolado da realidade.
Um exercício simples ajuda a ilustrar essa moldagem precoce do imaginário: tente desenhar uma casinha ou uma flor. Provavelmente você repetirá o mesmo desenho que aprendeu na pré-escola, com o mesmo telhado triangular, a mesma porta centralizada, o mesmo sol no canto da folha. O que parece uma inocente memória infantil revela, na verdade, o quanto somos condicionados a replicar o que nos foi ensinado, sem espaço para criar algo novo. É essa capacidade de inventar, de sair do molde, de dar forma ao inédito, que corre o risco de ser enfraquecida quando delegamos à IA o papel de pensar por nós.
Mas é preciso dizer: a tecnologia não é inimiga. Muito pelo contrário. A inteligência artificial pode ser uma poderosa aliada na expansão do conhecimento, na mediação de aprendizagens, na democratização de acessos e na valorização da leitura, da interpretação e do prazer por aprender. O problema não está na ferramenta, mas na ausência de mediação crítica sobre como, quando e por que utilizá-la. Quando colocamos a humanidade no centro, a tecnologia pode servir para fortalecer a singularidade de cada indivíduo, ampliar as possibilidades criativas e enriquecer o repertório coletivo.
Na música, por exemplo, é justamente o erro, o improviso, a respiração fora do tempo e o tremor da voz que geram emoção. Uma canção tecnicamente perfeita pode ser impecável, mas jamais será inesquecível se não carregar a digital afetiva de quem a interpreta. É isso que precisa ser preservado no uso da IA: a imperfeição como traço da autenticidade, a espontaneidade como marca da liberdade e a sensibilidade como sinal da presença humana.
Gosto muito da crítica sutil do filme Nomadland e do alerta sobre os caminhos que não queremos seguir. O pano de fundo do filme é a automação excludente, que empurra milhares de pessoas para a beira da sobrevivência, morando em trailers, vagando por empregos temporários e precarizados nos centros logísticos de gigantes do comércio eletrônico. O que chega em minutos ao nosso celular, seja um produto, um texto ou uma ideia, frequentemente ignora a cadeia invisível de exclusão, esvaziamento e silenciamento que sustenta essa eficiência.
Mais do que criar tecnologias para a educação, precisamos de uma educação que humanize o uso das tecnologias; que devolva às pessoas o prazer de pensar, de errar, de construir juntas, de experimentar; que valorize o conhecimento que nasce na experiência, da escuta e da cultura de cada um. Que nos faça lembrar que a inteligência, antes de ser artificial, precisa continuar sendo essencialmente humana.