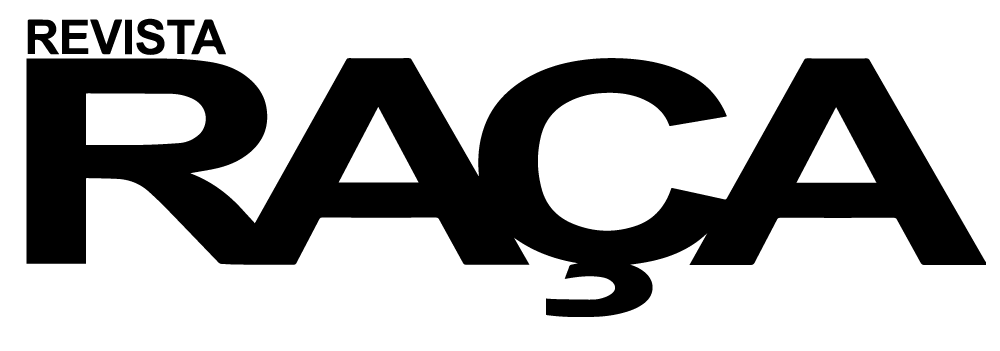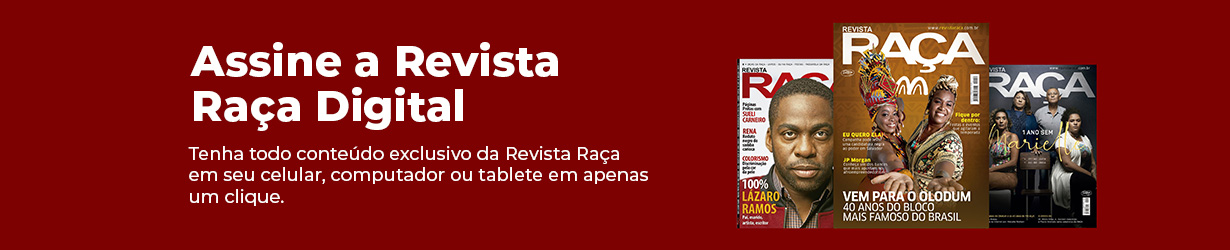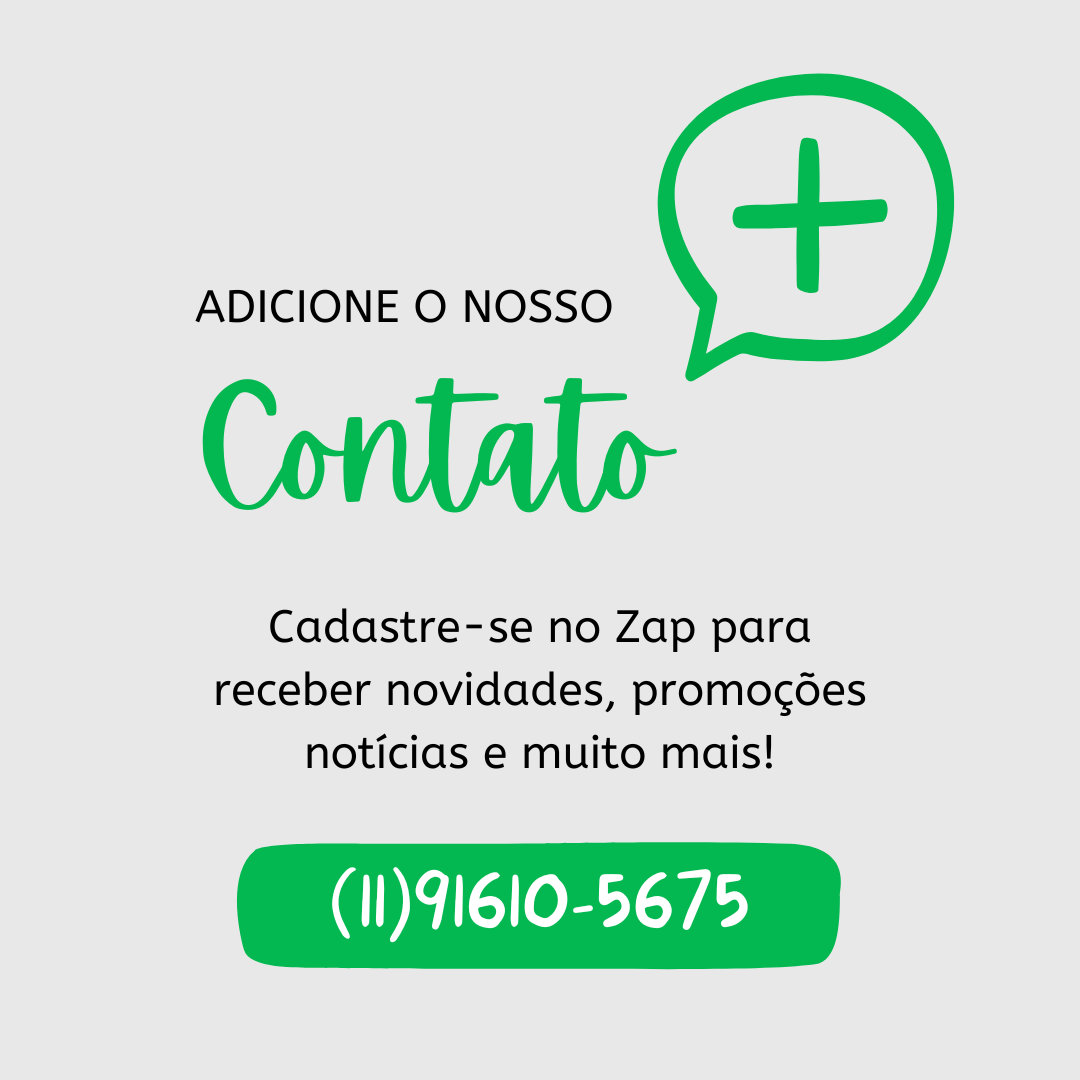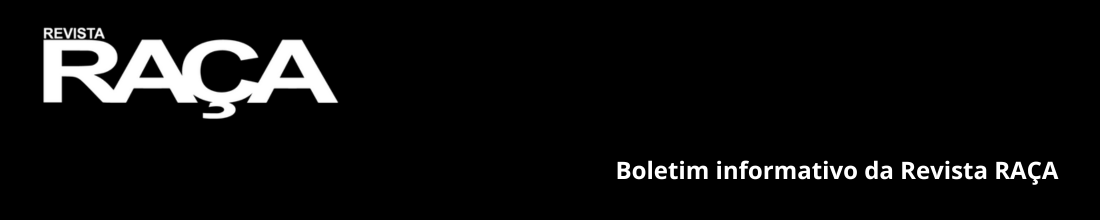As irmandades negras de mulheres, como a Irmandade da Boa Morte, no Recôncavo Baiano, e as irmandades do Rosário e das Mercês, em Goiás, são muito mais do que capítulos pouco conhecidos da história brasileira. Elas são monumentos vivos de resistência, organização e liderança feminina negra. Em períodos em que a escravidão ainda marcava corpos e destinos, essas mulheres construíram espaços de fé, cultura, solidariedade e poder. E o fizeram num tempo em que as portas do poder lhes eram quase todas fechadas.
Essas irmandades nasceram, muitas vezes, a partir de instituições criadas para domesticar e controlar a população negra, mas foram ressignificadas por essas mulheres como espaços de autonomia e apoio mútuo. Sob a proteção simbólica de santos católicos, mas carregando em si os fundamentos das tradições africanas, elas criaram redes de cuidado, definiram estratégias para libertar irmãs ainda escravizadas, garantiram enterros dignos e preservaram suas raízes culturais, mesmo sob vigilância e repressão.
Agosto, para o Recôncavo Baiano, carrega um significado especial: é quando começa, em Cachoeira, a tradicional Festa da Boa Morte. Mais que uma celebração religiosa, é a reafirmação de um pacto secular. Durante dias, as ruas ganham o colorido das saias rodadas, dos panos da costa, dos colares e das guias que carregam histórias de resistência. As irmãs, vestidas de branco e azul no cortejo de Nossa Senhora da Glória, ou de preto e roxo nas missas e procissões fúnebres, cumprem um ritual que mistura a solenidade católica com gestos, cantos e toques que remetem à ancestralidade africana.
Segundo registros históricos, a Festa é estruturada em dois momentos centrais: o rito da morte – quando as irmãs velam simbolicamente a imagem da santa, em uma encenação de despedida e luto – e o rito da glória – marcado pela celebração da Assunção de Nossa Senhora, com música, dança e banquete coletivo.
Esses ritos, em sua forma e simbologia, guardam semelhanças com o axexê do candomblé, a cerimônia fúnebre que celebra a passagem e continuidade espiritual, revelando a profundidade do diálogo entre a religiosidade católica popular e as tradições afro-brasileiras. Essa sequência, carregada de simbolismo, traduz a própria filosofia da irmandade: reconhecer a dor, mas afirmar a vida. Uma estratégia ancestral que garantiu a essas mulheres não apenas permanecerem unidas em torno de um propósito comum, mas também seguirem preservando sua fé, transmitindo valores e fortalecendo a identidade coletiva geração após geração.
O mais admirável é que essas lideranças não se limitaram à sobrevivência. Elas construíram projetos que atravessaram séculos. A Irmandade da Boa Morte, por exemplo, continua ativa hoje, lembrando-nos que, se em tempos de perseguição e desigualdade extrema foi possível criar instituições duradouras, no presente – ainda desigual – também é possível criar legados que transformem realidades.
Como liderança negra e presidente do Instituto Conselheira 101, vejo nessas irmandades um modelo ancestral de governança inclusiva. Elas me inspiram a buscar formas de inserir mais mulheres – especialmente negras e indígenas – nas esferas de decisão: nos conselhos de administração, nos comitês estratégicos, na política, na academia, no empreendedorismo. A irmandade, nesse sentido, não é apenas um conceito histórico; é um método vivo de construção coletiva, em que o sucesso individual se confunde com o sucesso do grupo.
Essas mulheres compreendiam algo essencial: não há emancipação real sem que todas caminhem juntas. Mesmo nos períodos mais duros, a irmandade era um pacto silencioso contra a exclusão. Elas exerciam liderança em todas as esferas que lhes eram acessíveis e, quando essas esferas eram limitadas, criavam novas – no altar, na rua, no comércio, nas festas, nas cozinhas, nas procissões.
O papel dessas irmandades no passado ilumina o caminho que temos pela frente. A presença da mulher negra na liderança não é apenas uma questão de justiça histórica; é uma estratégia poderosa para ampliar perspectivas, promover inovação social e construir soluções mais conectadas à realidade da maioria da população. Assim como as irmãs da Boa Morte e do Rosário enfrentaram seus tempos com coragem e visão, nós, líderes negras de hoje, precisamos continuar abrindo caminhos – não apenas para estarmos “presentes” nas estruturas de poder, mas para configurá-las à luz da equidade e da coletividade.
Se nossas ancestrais, em tempos de profundas opressões, ergueram irmandades que atravessaram séculos, nosso compromisso agora deve ser ainda maior: construir e manter vivas alianças, movimentos e redes que nos fortaleçam mutuamente. Não para disputar os poucos espaços que nos são oferecidos, mas para criar novos espaços – mais amplos, diversos e justos – onde todas possamos florescer.
A permanência dessas conquistas dependerá da nossa capacidade de agir unidas, somando forças e saberes, como fizeram as mulheres que vieram antes de nós. A liderança da mulher negra é, e sempre será, um ato de transformação coletiva – e é juntas que vamos moldar o futuro.