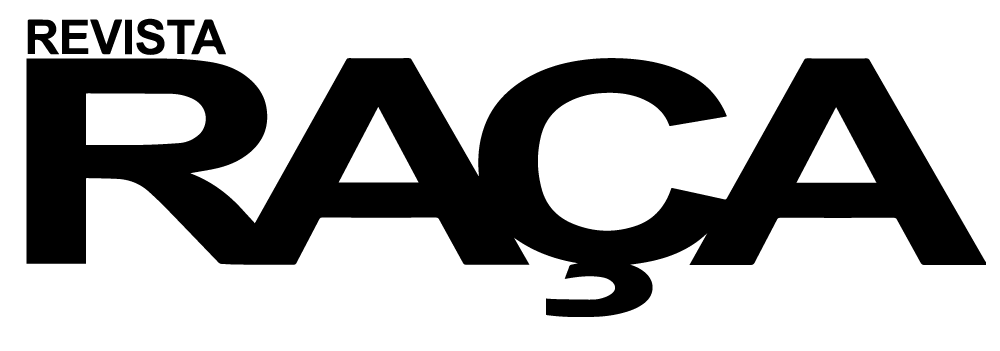Ser mulher negra é carregar no corpo uma história de resistências, mas também de violências que muitas vezes não escolhemos. A objetificação do nosso corpo sempre esteve presente: fomos lidas como corpos disponíveis, hipersexualizados, como se a nossa existência só pudesse ser traduzida em desejo alheio. Mas e quando eu só quero ser eu?
Quando escolho uma roupa curta, uma tatuagem, um bronzeado, não é para ninguém além de mim. É porque gosto, é porque me sinto bem, é porque tenho o direito de experimentar minha estética, meu prazer, minha liberdade. E ainda assim, o peso da sociedade insiste em recair sobre nós. É como se a mulher negra não tivesse o direito de ser livre sem que essa liberdade fosse confundida com uma suposta “provocação”.
É cansativo ser lida como “desejo” ou “objeto” antes de ser lida como pessoa. É injusto ter minha liberdade vigiada, policiada e julgada. Eu não quero ser um corpo público, um corpo interpretado, um corpo que precisa se explicar. Eu quero ser um corpo livre.
A objetificação da mulher negra precisa ser falada porque ela nos rouba algo muito profundo: o direito de existir de maneira simples, banal até. O direito de só vestir uma roupa porque gosto dela, e não porque preciso pensar na leitura que farão de mim. O direito de tatuar minha pele sem que associem isso a vulgaridade. O direito de me bronzear porque amo a cor que o sol me dá, e não porque quero performar alguma sensualidade forçada.
A minha liberdade não precisa ser pedagógica, nem exemplo para ninguém. Ela é minha. Quero viver em uma sociedade em que mulheres negras possam simplesmente existir, sem serem julgadas, enquadradas ou hipersexualizadas.
Porque no fim das contas, ser livre deveria ser só isso: ser.