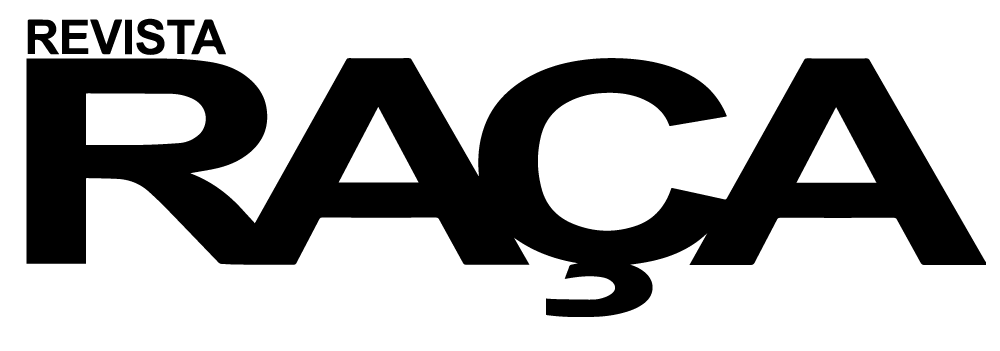Entre 11 mil e 8 mil anos atrás, as grutas de pedra calcária que se espalham pela região do atual município de Lagoa Santa, a cerca de 50 quilômetros de Belo Horizonte, eram frequentadas por uma gente muito especial. A mais famosa representante desse grupo é a mulher apelidada de Luzia, cujo esqueleto foi descoberto na década de 1970 e que é considerada o mais antigo habitante do continente americano. Para os pesquisadores brasileiros que estudam Luzia e sua “família”, não restam dúvidas: eles eram representantes de um povo ancestral que não tinha relação com os índios atuais.

As pistas sobre as características únicas desses “paleoíndios” de Lagoa Santa, como são conhecidos, estão em seus crânios, dezenas dos quais já foram encontrados no município mineiro. A análise detalhada do formato da cabeça de Luzia e companhia e sua comparação com os crânios de outros povos do mundo inteiro sugerem que eles são muito mais parecidos com os de aborígenes australianos, de habitantes da Melanésia e mesmo com os dos africanos modernos. Seriam negros, portanto. Por outro lado, os indígenas brasileiros de hoje são geneticamente bem mais próximos dos povos do nordeste da Ásia, como os grupos nativos da Sibéria.
Isso significa que os primeiros seres humanos a caminhar por aqui se aventuraram numa jornada épica pelo mar, atravessando o Atlântico (se vindos da África) ou o Pacífico (se saídos da Austrália)? Provavelmente não, afirmam os cientistas que defendem o caráter único do povo de Luzia. O mais provável, segundo essa corrente, é que os paleoíndios de Lagoa Santa sejam descendentes de populações que compartilhavam ancestrais comuns com os aborígenes da Austrália, mas que acabaram migrando rumo ao norte da Ásia e chegando ao continente americano pelo estreito de Bering. Só depois de se espalharem pelas Américas é que eles teriam chegado a Lagoa Santa.
A jornada
As setas em preto mostram o caminho percorrido pelos ancestrais do povo de Luzia até as Américas. As em vermelho indicam o caminho dos ascendentes dos índios atuais, que teriam atravessado o Estreito de Bering longos dois mil anos depois da população negra.

Ondas migratórias
O coordenador do grupo que defende a origem peculiar para o povo de Luzia é o bioantropólogo Walter Alves Neves, que lidera o Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos da USP. Ele conta que, no final dos anos 1980, decidiu fazer uma análise do formato de crânios de Lagoa Santa pertencentes ao acervo de um museu de Copenhague, na Dinamarca, em parceria com um colega argentino, Héctor Puciarelli.
“Eu falei para o Héctor: vamos comparar os dados de Lagoa Santa com os de populações do mundo inteiro e mostrar para o povo aqui do Brasil que a ocupação da América é chata mesmo, não passa de 11 mil e poucos anos, e que todo mundo que entrou aqui era siberiano”, lembra o bioantropólogo. “Quando vimos que os crânios eram mais similares aos de indivíduos africanos e australianos… Cara, nós simplesmente piramos.”
A hipótese ganhou mais força em 1998, quando ficou provado que Luzia tinha as mesmas características dessa amostra de crânios e que, com 11.500 anos, ela realmente era o mais antigo ser humano das Américas. Neves e sua equipe conseguiram financiamento para um grande projeto de escavações em Lagoa Santa, descobrindo vários outros crânios com a mesma morfologia “australomelanésia” e com idades um pouco mais recentes – algo entre 9.500 e 8.500 anos. Fora daquela região, curiosamente, há pouquíssimos crânios americanos tão antigos, mas Neves e seus colegas afirmam que outros exemplares, achados em lugares distantes, como o México e a Colômbia, têm morfologia que parece coincidir com a de Luzia e companhia.
Como explicar, então, a diferença entre os paleoíndios e os índios encontrados por Cabral e Colombo? Os pesquisadores acreditam que houve duas grandes ondas migratórias para o nosso continente. A primeira teria cruzado o estreito de Bering por volta de 15 mil anos atrás e corresponderia aos paleoíndios. A ideia é que eles seriam parentes relativamente próximos dos nativos australianos e melanésios, com uma morfologia craniana considerada “generalizada” -ou seja, próxima do “modelo básico” dos crânios de seus ancestrais africanos (lembre-se de que o Homo sapiens moderno evoluiu na África e depois se espalhou pelos demais continentes). Ao se expandir pela costa da Ásia de forma relativamente rápida, eles teriam mantido esse padrão craniano ancestral.
Alguns milhares de anos depois, por volta de 10 mil a.C., teria chegado às Américas uma segunda onda de povoamento humano, dessa vez formada pelos ancestrais dos índios atuais. Esse povo teria passado mais tempo nas regiões frias do nordeste da Ásia e desenvolvido a morfologia craniana tipicamente oriental, com os olhos puxados.
O que teria acontecido, então, com os paleoíndios? Eles poderiam ter se miscigenado com os recém-chegados ou guerreado com eles e perdido. Mas existe a possibilidade de que alguns grupos deles tenham sobrevivido até bem perto do presente.
Análises cranianas sugerem que os principais candidatos são os botocudos, grupo de caçadores-coletores do interior de Minas Gerais e do Espírito Santo que foram exterminados no século 19. “Está cada dia mais claro que eles são descendentes dos paleoamericanos”, afirma Neves.
Uma pista intrigante a esse respeito veio da pesquisa genética: em 2013, cientistas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) identificaram DNA típico de grupos da Polinésia em crânios de botocudos preservados no Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Os polinésios seriam parte do grande grupo de humanos com crânio “modelo básico”. “Mas isso talvez indique, também, que ocorreu de fato uma migração marítima, ideia à qual eu sempre resisti”, diz o bioantropólogo.
O DNA polinésio de alguns botocudos, na verdade, é o único indício genético que, por enquanto, parece apoiar os pesquisadores da USP. O calcanhar de aquiles da teoria é mesmo o DNA, porque praticamente todas as tribos indígenas modernas carregam genes compartilhados com populações da Sibéria. Para os críticos de Walter Neves, seria muito difícil que os paleoíndios não deixassem nenhum rastro genético em pessoas vivas hoje.
Tigres e ursos
Seja como for, o certo é que os estudos levados a cabo na região de Lagoa Santa têm ajudado a traçar um retrato fascinante de como era a vida desses primeiros americanos. A começar por um paradoxo: está comprovado que Luzia e seu povo conviveram com os últimos exemplares das feras da Era do Gelo – animais como tigres-dente-de-sabre, grandes ursos e preguiças-gigantes. As datas da última aparição desses bichos no interior mineiro giram em torno de 9.500 anos – bem depois da própria Luzia, portanto. Mas não há sinais de que os paleoíndios brasileiros comessem essas feras.
Difícil saber se esse fato tinha a ver com algum tabu ou com a simples dificuldade de capturar os animais, mas o fato é que os restos de almoços pré-históricos achados nas cavernas mineiras são de uma dieta à base de plantas e de animais de pequeno e médio porte, como porcos-do-mato, veados, tatus e lagartos. Poucos artefatos de pedra feitos pelo povo de Luzia foram encontrados por enquanto, mas há muitas lascas de quartzo nos abrigos rochosos, provavelmente restos do trabalho de produção dessas ferramentas rudimentares.
Os paleoíndios faziam pinturas e gravuras rupestres (leia mais no quadro a seguir), mas sua principal forma de arte parece ter envolvido os mortos. As mais recentes escavações em Lagoa Santa revelaram sepultamentos nos quais o crânio de uma pessoa era pintado, queimado ou usado para abrigar uma coleção de ossos de outro indivíduo. Também foram identificados casos em que os dentes de um morto acabaram sendo arrancados de sua boca e encaixados na mandíbula de outro cadáver. Os motivos desse tipo de ritual bizarro dificilmente serão esclarecidos algum dia.