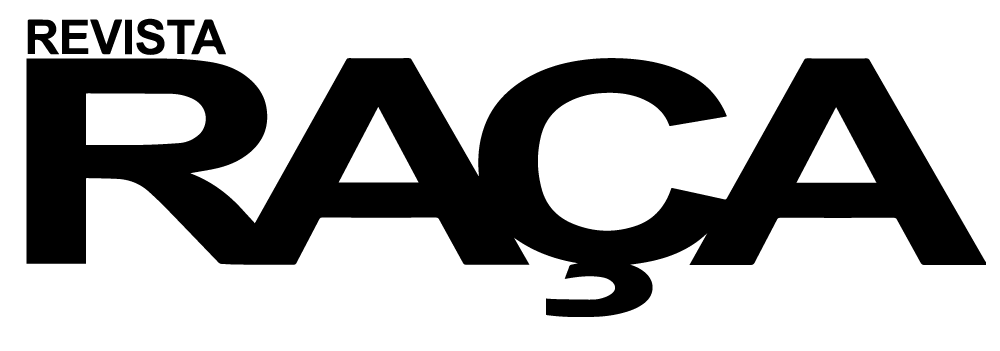Quando acionamos o debate sobre relações raciais não podemos deixar de pensar que um dos seus elementos centrais é a imagem e a aparência. Como aspecto simbólico e locus das relações de poder, o campo da moda não deixaria de eleger um modelo que se pretende universal para a produção da beleza. Desde os mais antigos exemplos de artes visuais e design, aplaudidos como geniais na história que compulsoriamente estudamos, diversos padrões se fixaram contribuindo para as tentativas de uniformização das identidades e como parâmetro de excelência, onde predominam nomes e formas que representam, além da branquitude, outros recortes privilegiados de classe social, acessibilidade, silhueta e etc.
As significações impressas nas roupas que usamos, na pouca autonomia estética que sempre tivemos, nas interpretações sobre nossa condição social pautadas nas combinações entre tom e cor de pele, textura de cabelo, formato de nariz, junto ao contexto onde cada corpo habita e significa, se produzem como uma narrativa de origem. E será que a aparência pode ser entendida como texto ou discurso? Tenho pensado muito sobre isso…

Fotografia de Helemozão
Entendo que os traços fisionômicos ou o aparato corporal visível, pode não oferecer necessariamente a possibilidade de manipulação, em especial no que se refere às interpretações da nossa imagem como índice do nosso pertencimento, limitando – mas não eliminando – as possibilidades de interferência nas lentes impostas pelo racismo. Corpos existem e significam num contexto pré-definido e independentemente das nossas intencionalidades. Como pessoas negras, ainda não reconfiguramos as memórias de subalternidade elaboradas e ratificadas diariamente a partir do passado e do presente escravista e assimétrico do Brasil.
Por mais que possamos acionar a aparência como estratégia de luta, ainda temos muita mudança estrutural pendente e como aliada das outras estratégias de intervenção, venho me provocando a considerar a aparência como forma de materialização da reflexão sobre a importância da presença, buscando expressar o meu lugar de fala e meu posicionamento crítico diante do vocabulário da moda e suas estruturas.
Olho ao meu redor e percebo que a grande maioria do aparato vestimentar que usamos para nos apresentar cotidianamente é de origem branca. Não seria diferente, pois como país que foi colonizado por Europa, isso é um fato. A provocação se faz quando pensamos que a origem é apenas um dado e que pode ser ressignificada com o uso, com a mudança de contexto ou como parte de outro projeto de existência ou de criação artivista.
Descolonizar nossos corpos também é celebrar nossa aparência, observo isso na maneira como dentre as meninas mais jovens um amplo vocabulário estético-identitário hoje é possível, como parte espontânea da construção individual e coletiva. Estimuladas por mudanças que as precederam, realizam um investimento na visualidade, modelando diferentes formas de resistência dentre a população negra e jovem, que recupera e reinterpreta os signos de negritude e desde muito cedo percebem o corpo como locus de disputa e representação de referências estéticas dissonantes da hegemonia.
 CAROL BARRETO
CAROL BARRETO
Mulher Negra, Feminista e como Designer de Moda Autoral elabora produtos e imagens de moda a partir de reflexões sobre as relações étnico-raciais e de gênero. Professora Adjunta do Bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidade – FFCH – UFBA e Doutoranda no Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade – IHAC – UFBA, pesquisa a relação entre Moda e Ativismo Político
*Este artigo reflete as opiniões do autor. A Revista Raça não se responsabiliza e não pode ser responsabilizada pelos conceitos ou opiniões de nossos colunistas