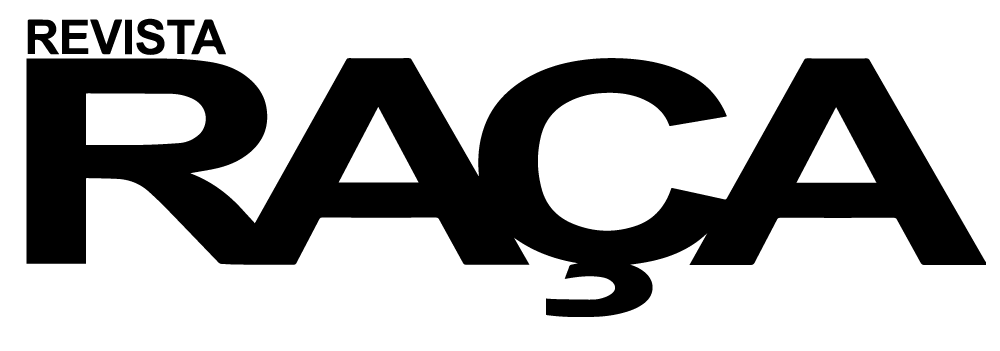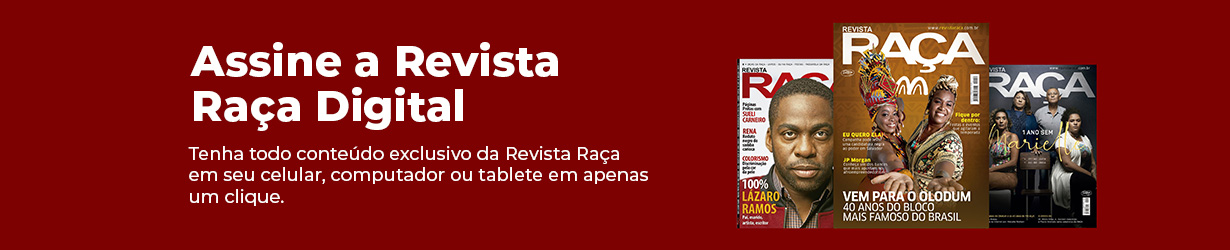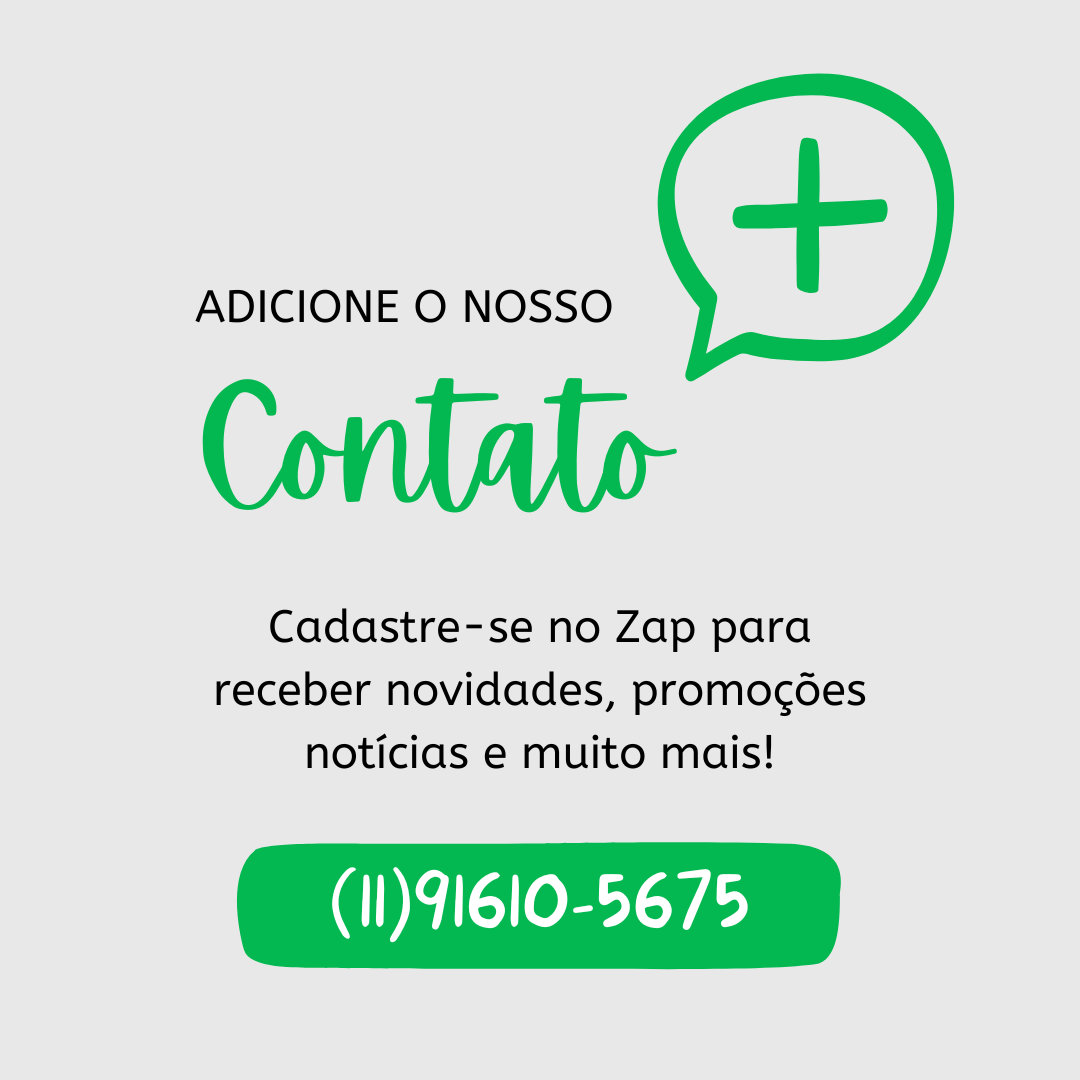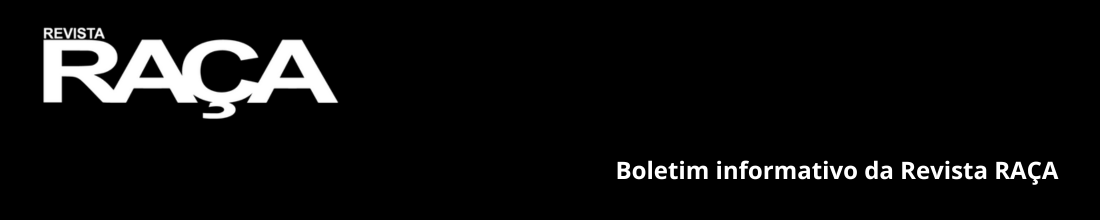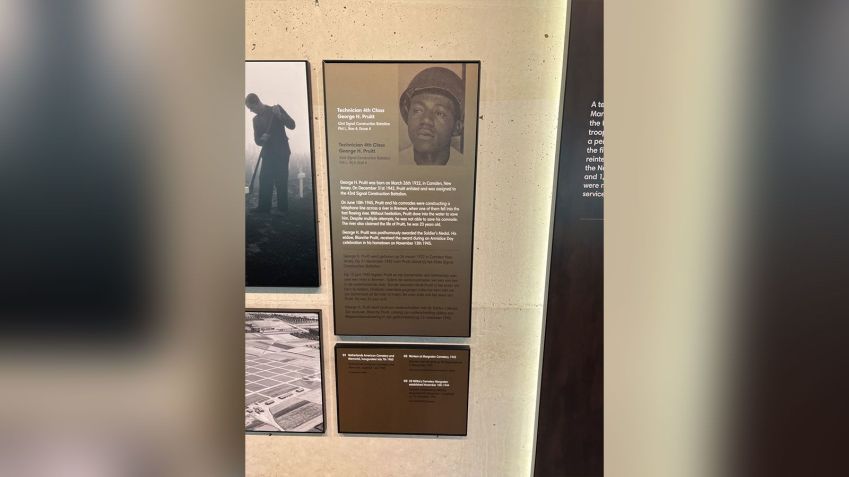Na última semana, em 8 de agosto de 2025, o presidente sancionou o Projeto de Lei nº 2.159/2021, popularmente chamado de “PL da Devastação”, que reformula as regras do licenciamento ambiental no Brasil. A sanção veio acompanhada de vetos a 63 dispositivos entre os cerca de 400 aprovados pelo Congresso Nacional, resultado de uma intensa mobilização de organizações socioambientais, lideranças indígenas, quilombolas e especialistas que alertavam para riscos de retrocessos profundos na proteção da natureza e dos direitos de povos e comunidades tradicionais.
Entre os pontos mais críticos do texto original estava a limitação da atuação da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) apenas a terras já homologadas, deixando de fora cerca de 33% das Terras Indígenas e 80% dos territórios quilombolas ainda não titulados, segundo dados do Centro de Pesquisa e Documentação sobre Povos e Comunidades Tradicionais. Isso significaria expor milhões de pessoas a projetos com grande impacto, sem qualquer obrigação de consulta prévia, livre e informada.
Ao vetar essa restrição, o governo manteve a exigência de licenciamento ambiental para empreendimentos em áreas de povos originários e quilombolas e restringiu a aplicação da Licença por Adesão e Compromisso apenas a atividades de baixo impacto, impedindo que empreendimentos de médio potencial poluidor se isentassem de análise técnica. Essa medida evita o enfraquecimento de órgãos como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), conforme análise divulgada por entidades socioambientais.
Para compreender o alcance desses vetos, é necessário situá-los no contexto histórico da luta por proteção territorial e ambiental no Brasil. O direito das comunidades quilombolas à terra foi reconhecido apenas com a Constituição Federal de 1988, que no Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias determinou que a elas fosse concedido título definitivo de suas terras. A implementação prática, no entanto, foi lenta e repleta de obstáculos.
A primeira titulação ocorreu apenas em 1995, em Boa Vista, no Pará, e até hoje, passados quase 30 anos, pouco mais de 160 territórios foram titulados, segundo dados da Comissão Pró-Índio de São Paulo. Apesar de avanços recentes, como a assinatura de 31 decretos de regularização em 2024, beneficiando mais de 5.400 famílias e garantindo cerca de 138 mil hectares, o processo ainda está longe de atender à demanda.
Outro marco fundamental é a Lei da Mata Atlântica (Lei nº 11.428/2006), sancionada após 14 anos de debates e mobilizações, que instituiu regras para uso sustentável e proteção de um dos biomas mais ameaçados do planeta. Hoje, restam apenas cerca de 12,5% de sua vegetação original, conforme dados da Fundação SOS Mata Atlântica. A lei é vital para a preservação de recursos hídricos, biodiversidade e estabilidade climática, e sua proteção foi mantida graças a um dos vetos presidenciais que barraram tentativas de enfraquecê-la no texto do PL 2159.
A decisão presidencial, embora tenha preservado elementos essenciais, não eliminou todas as preocupações. A edição de uma Medida Provisória para dar eficácia imediata à Licença Ambiental Especial, que acelera o licenciamento para obras consideradas estratégicas, gera apreensão entre especialistas, pois pode reduzir o rigor da avaliação de impactos socioambientais. Organizações como WWF-Brasil e ActionAid reconhecem que os vetos foram fundamentais para evitar retrocessos, mas alertam que as brechas ainda presentes no novo marco legal precisam ser acompanhadas de perto pela sociedade civil e pelos órgãos de controle.
O que se viu nesse processo não foi um gesto isolado do Executivo, mas o resultado da resistência de movimentos sociais, acadêmicos, ambientalistas e comunidades que compreendem que a preservação ambiental e a proteção de direitos humanos caminham juntas. Povos indígenas e quilombolas têm sido, historicamente, os maiores guardiões da biodiversidade, e a garantia de seus direitos territoriais não é apenas uma questão de justiça social, mas uma estratégia comprovada de conservação ambiental. Proteger suas terras significa proteger rios, florestas, fauna, flora e o próprio futuro coletivo.
Mais do que nunca, este momento é mais um marco sobre a importância do envolvimento da sociedade sobre debates ambientais e seus impactos sociais. É necessário construirmos avanços para a ampliação produtiva brasileira, mas não retroceder em conquistas históricas que fizeram e fazem do nosso país um dos lugares mais preservados do planeta.