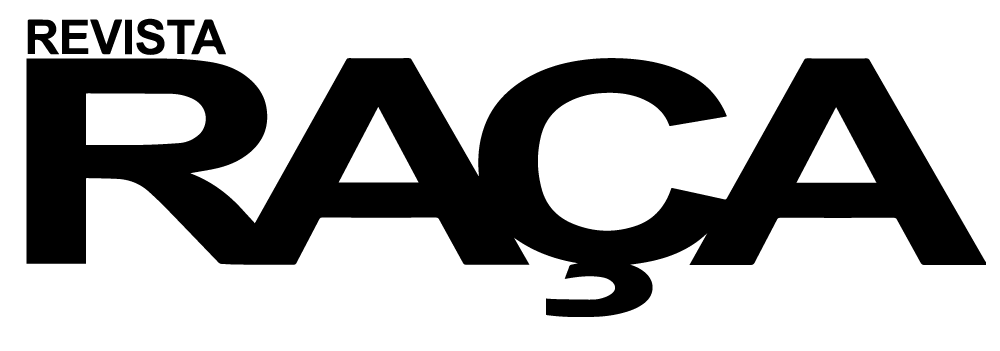“A oportunidade venceu a meritocracia”.
O órgão foi criado em 1992, após o episódio do Massacre do Carandiru, em que 111 presos foram mortos em uma ação da polícia de São Paulo, a Dra Ester Rufino é a primeira mulher negra a ocupar o cargo de diretora na instituição.
Ester foi bolsista na Faculdade Zumbi dos Palmares, formou-se em 2014. Além do diploma, é ativista antirracista desde 2004 com a Educafro, orgnanizacao que luta pela inclusão de pessoas negras no Ensino Superior, a Dra mora no extremo da zona leste de São Paulo, tem três filhos e foi empregada doméstica até conseguir frequentar a universidade. Eleita por unanimidade pelos associados da entidade, a ativista faz parte da diretoria de Segurança Pública do Instituto.
Pretende voltar o foco para as políticas públicas do Estado para a população negra “Sou uma ativista da sociedade civil que agora está dentro de uma gestão estatutária para pensar sobre a violência contra a mulher negra, os encarcerados. É algo histórico para o Instituto”. A diretora enfatiza também sua atenção às questões de gênero. Sua função é pensar e promover ações relacionadas ao encarceramento em massa, à prisão de inocentes por falta de julgamento correto, às prisões femininas e à violação das mulheres encarceradas, pretas e pobres.
“Temos também discussões agendadas com governadores sobre letalidade policial, por exemplo. Há planos de convênio para letramento racial [o entendimento de como a raça é um fator social e a necessidade de ações antirracistas] dos guardas municipais de São Paulo”.
O Instituto faz a publicação de estudos de Ciências Criminais e promove cursos nas áreas de direitos humanos, segurança pública e políticas relacionadas à realidade criminal e penitenciária, além de atuar no campo político, monitorando, por exemplo, projetos de lei ligados aos temas.
Duas mudanças internas aconteceram em paralelo, o ineditismo do novo cargo de Ester Rufino e a implementação de uma cota mínima de 20% de membros autodeclarados negros e negras para composição da Diretoria e do Conselho Consultivo.
“Isso foi a virada de chave. Havia mulheres negras chefes de departamento, como a advogada Juliana Souza, eu mesma era coordenadora adjunta do Departamento de Concessão de Bolsas de Estudos e Desenvolvimento Acadêmico. E tinha o professor Silvio Almeida”, explica. “Mas se não tivesse uma mudança, já que para diretoria teria que ter pelo menos 10 anos de casa, as mulheres negras não seriam contempladas tão cedo.”
Ester enfatiza que o desafio do Brasil é olhar com urgência para o racismo estrutural e institucional que estão entranhados na sociedade.
“Isso de ver as mulheres negras lutarem pelas questões do encarceramento, nos movimentos negros ainda é novo no Brasil. A Débora [Maria da Silva, criadora do movimento Mães de Maio], no entanto, é minha professora. É que isso aprofundou com a morte de Marielle Franco. As instituições começam a entender que mulheres negras existem”, pondera.
Porém, temos essa visibilidade devido ao sangue de negras e negros que tombaram. Ela vem a troco de sangue e de dor. Mas o Brasil tem a obrigação de lutar contra o racismo estrutural e institucional, inclusive colocando a questão de gênero, que é gritante. Para ela o fato de existirem mulheres ocupando cargos na direção e posições de liderança em instituições como o IBCCRIM também faz parte desse processo
Qual é a vacina para esse sangramento?”
Ester cita também o conceito de necropolitica, do filósofo Achille Mbembe, Preocupada com a forma que o Estado tem lidado com a situação e com o efeito da pandemia de coronavírus sobre as pessoas negras, que tem aprofundado as desigualdades raciais no Brasil, Ester cita o conceito de necropolítica, do filósofo camaronês Achille Mbembe,
“A necropolítica é algo que nos marca para morrer. Aquele ‘eles combinaram de nos matar’, da escritora Conceição Evaristo, e esse conceito só se amplia na pandemia. Morremos de covid, no feminicídio, no genocídio dos jovens negros, em conflito policial. Que vacina vamos ter para parar esse sangramento? Eu preciso gritar, como mãe, periférica, negra, para que o país entenda de uma vez por todas. Senão, não vão enxergar nossos filhos morrendo”.