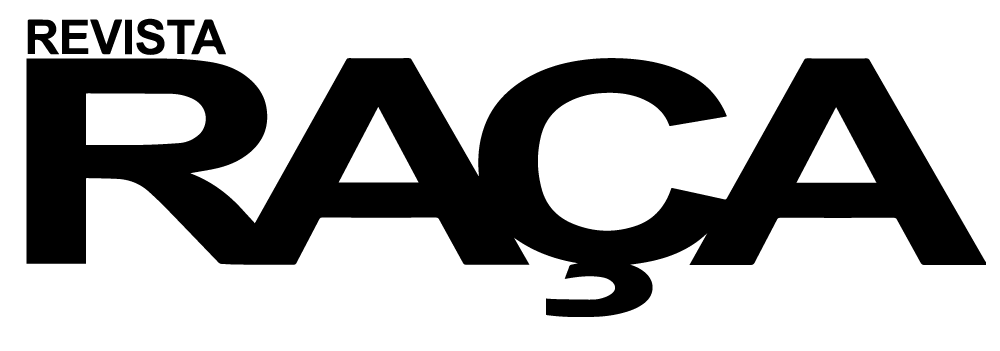Em um país onde a cor da pele ainda define o destino, o Brasil continua enterrando seus jovens negros antes que eles tenham a chance de viver plenamente. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024, 76,9% das pessoas mortas em ações policiais no último ano eram negras. É mais do que um número — é um alerta doloroso, que escancara um sistema que insiste em não enxergar humanidade em certos corpos.
Das 6.673 pessoas mortas por policiais em 2023, a maioria era homem, jovem, negro. São vidas ceifadas antes de sonhos, histórias interrompidas antes mesmo de começarem. Quase sempre, essas mortes acontecem longe dos holofotes, nas periferias, nas favelas, onde a ausência do Estado vira presença violenta. Onde a cor da pele transforma suspeita em sentença de morte.
Esse não é um fenômeno novo, e tampouco é um erro isolado. A violência tem alvo. E tem estrutura. Especialistas e movimentos sociais são unânimes ao afirmar: o que vemos não são falhas, mas o reflexo cruel de uma política de segurança que trata o corpo negro como ameaça e a sua existência como risco.
“O racismo não é um problema dos negros. É um problema do Brasil. E enquanto não for tratado assim, continuaremos chorando nossos filhos”, afirma um dos ativistas ouvidos durante a conferência estadual de igualdade racial, que reuniu lideranças para discutir políticas públicas com foco em reparação e justiça.
Em meio a tanto luto, resistir também é um ato político. E cada jovem negro que segue sonhando, estudando, criando, ocupando espaços, também é prova de que o futuro pode — e precisa — ser diferente.
A pergunta que fica é: até quando vamos seguir contando corpos, ao invés de garantir vidas?