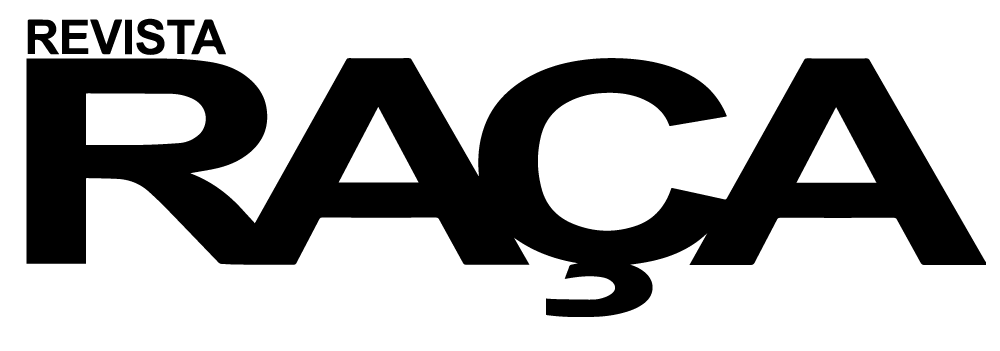Geógrafa recompôs o quebra-cabeças da Porto Alegre negra, atualizando o mapa da cidade com o Areal da Baronesa, a Colônia Africana, a Ilhota e a Bacia do Mont’Serrat
As lavadeiras do Arroio Dilúvio e o tambor dos rituais batuque estão representados na fachada de uma das modestas construções da Luiz Guaranha, ruela sem saída no bairro Menino Deus. O grafite demonstra o orgulho da própria história no quilombo Areal da Baronesa, um sobrevivente entre os antigos territórios negros de Porto Alegre — ainda assim, em área muito menor que a original.
Embora Porto Alegre seja habitada por negros desde que foi colonizada, eles raramente constam nas narrativas oficiais sobre a cidade. Além do Menino Deus, os bairros Mont’ Serrat, Cidade Baixa e Rio Branco já foram territórios negros, áreas onde essa população morava, tinha seu lazer e práticas culturais (como o batuque e o Carnaval).
Nascida em Porto Alegre, a hoje professora da rede municipal e doutoranda em Geografia Daniele Machado Vieira conta que não teve acesso a essas informações durante sua criação, nem na escola e nem em qualquer outro espaço.
— Eu frequentava e não sabia que a Cidade Baixa, a Redenção eram áreas de presença negra. E, para além disso, eu não cresci tendo essa presença como positiva, incluindo o negro como parte importante na construção dos espaços urbanos.
Daniele dedicou o seu trabalho de mestrado na UFRGS para recompor o “quebra-cabeças” da Porto Alegre negra. Ela fez mapas desses territórios a partir do cruzamento de informações de documentos históricos, fotografias, crônicas e narrativas.
— As pessoas não sabem onde eram esses lugares. E, mesmo quem sabe, acaba localizando no ponto errado, era como se ficassem soltos no espaço imaginário. As áreas ficavam distorcidas e muitas vezes minimizadas — destaca a pesquisadora, que recebeu dois prêmios nacionais com a dissertação.
Abolição da Escravatura
Os territórios negros começam a surgir no século 19. Com a abolição da escravatura, em 1888, houve uma intensa reorganização territorial e a população empobrecida, na sua maioria negra, foi despachada para espaços semirrurais no entorno da área central. No século passado, o avanço da urbanização e a valorização dos terrenos acabaria expulsando essas pessoas mais uma vez, para ainda mais longe. A Restinga, no extremo-sul da Capital, nasceu como um loteamento para abrigar moradores desalojados de vilas pobres.
Foi mandada para lá boa parte da população da Ilhota, um território negro do começo do século 20, na área onde hoje fica o Ginásio Tesourinha. Tinha esse nome porque era totalmente circundada por uma das curvas do Dilúvio, após o seu encontro com o Arroio Cascatinha. Depois da mudança do leito do arroio para a canalização, a partir da década de 1940, essa pequena ilha deixou de existir.
A ligação dessa vila com a cidade era feita por pontilhões de madeira. Elas estavam no poema do escritor Athos Damasceno Ferreira: “Esta é a ponte que desemboca nos quilombos. O riacho barrento, roçando os barrancos, enlaça nos braços molengos e longos a ilha crivada de becos bibocas baiúcas de barro batido… Veneza? … Pois sim! … Caíques, fingindo de gôndola, atados aos frades de pedra flutuam”. A cada cheia do Dilúvio, essa área ficava debaixo d’água.
A Ilhota era formada por becos e tinha como vias principais a Rua Ilhota e a Travessa Batista, onde residia a família de Lupicínio Rodrigues. Dizem que era a casa mais bonita de todas. O cantor e compositor morou ali por cerca de 35 anos, até antes de 1950.
Saía dali o bloco de Carnaval Divertidos Atravessados, acolhendo família e vizinhos. Vestindo verde e branco, eles desfilavam em coretos da Rua dos Andradas e em outros concursos carnavalescos, como no Areal da Baronesa, nas ruas João Alfredo e Borges de Medeiros. Lupicínio era compositor, ensaiador, diretor de bateria e cantor do bloco.
Se onde havia um dia a Ilhota, edifícios de classe média hoje se mesclam com casas humildes, outro território negro da mesma época teve uma transformação mais bruta. Quase nada resta hoje do território negro que ficava no Mont’Serrat, agora um dos bairros mais elitizados de Porto Alegre.
Chamado no começo do século passado de Bacia do Mont’Serrat, esse território ficava entre as vias Plínio Brasil Milano, Mariland, Pedro Ivo e Pedro Chaves Barcelos. Era moradia de lavadeiras, que usavam bicas de água à disposição pelas ruas. Mas o que mais chamou atenção de Daniele na sua pesquisa sobre a Bacia foi o número de terreiros que havia na região.
— Tem narrativas que falam de sete casas de batuques na mesma rua — grifa.
Colônia Africana
Localizada onde hoje fica o bairro Rio Branco, a Colônia Africana existiu por pelo menos cinco décadas, da época da abolição da escravatura, em 1888, até a década de 1940. Ela foi ocupada por escravos libertos e pelos seus descendentes, além de imigrantes europeus que chegavam na cidade.
Um dos maiores acontecimentos do ano por ali eram as comemorações a Nossa Senhora da Piedade, no final de setembro — a Paróquia Nossa Senhora da Piedade ainda existe na Rua Cabral.
Os negros faziam sua própria versão da festa católica, com participação de mães de santo, comida africana, bailarinos com roupas cintilantes. Seu Jayme Moreira da Silva, morador da Colônia Africana falecido em 2014, aos 98 anos, relatava que a festividade se repetia por vários domingos, terminando com “pretas velhas batuqueiras de todas as nações africanas pedindo proteção da santinha da subida do Morro da Piedade”.
Mas as famílias foram vendendo seus terrenos, e a área foi deixando de ser essencialmente negra. Segundo a professora Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, essa descaracterização foi fruto da especulação imobiliária.
— A gente sabe que os pobres preparam o lugar para os ricos irem chegando — comenta.
Professora emérita da Universidade Federal de São Carlos, reconhecida nacional e internacionalmente — ela foi a relatora das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História Afro-Brasileira e Africana —, Petronilha nasceu na Colônia Africana e mora na região até hoje.
Foi criada em um um chalé de madeira, dividido por sua família e pela família do tio na Rua Esperança — hoje, Miguel Tostes. No mesmo terreno, agora tem uma construção em alvenaria que lhe serve de escritório e biblioteca.
Petronilha não sabe se a vizinhança conhece o passado do bairro. Imagina que não.
— As pessoas não conversam nem entre si na vizinhança, imagina que vão se interessar pela história do bairro — relata.