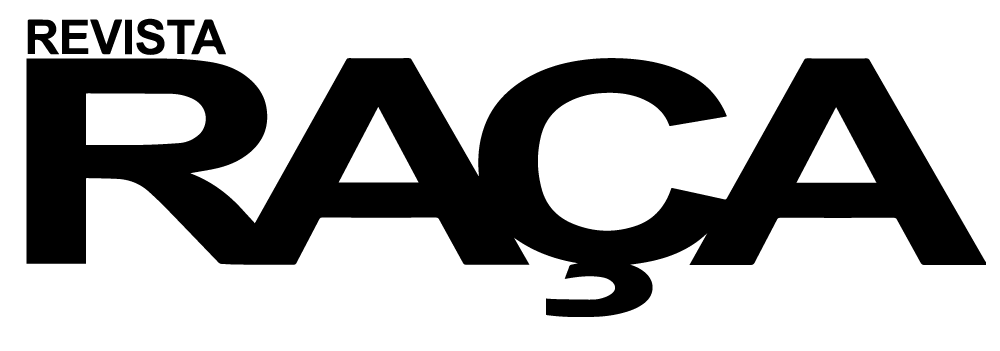Será que algum outro norte-americano passou mais tempo de carreira levantando os braços em choque, surpresa e felicidade que Oprah Winfrey? Talvez – talvez – alguns torcedores, sofredores mal-acostumados. O fato é que em 25 anos apresentando um programa de variedades diurno cinco dias por semana, nove meses por ano, geralmente com uma audiência maciça, Winfrey ergueu os braços muitas vezes, seja por causa de transformações, reformas, presentes, surpresas feitas por celebridades – como aquela vez, em 2011, em uma das últimas edições de “The Oprah Winfrey Show”, quando se virou e viu Stevie Wonder ao piano, subindo lentamente no piso. Tá certo, aí foi um braço só, mas erguido com a força de ambos.
Pois ela e os milhares de horas de programa agora viraram tema de uma exposição imensa e fascinante no Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americanas do Smithsonian, que captura exatamente o que a atração era, fez e significou. E inclui o momento com Stevie Wonder em uma montagem abrangendo a progressão do talk show, em seus anos finais, em uma megaprodução requintada e emocionante.
A instalação “Watching Oprah: The Oprah Winfrey Show and American Culture” é o que bem pode ser considerado a cara do Smithsonian: uma combinação de dar água na boca, aquecer o coração, arregalar os olhos e fazer doer os pés de biografia, antropologia, sociologia, nostalgia, história e análise (sobre cultura, raça, gênero, tecnologia, mídia, educação, consumismo, economia, beleza, moda e lei), tudo em um espetáculo bombástico. E você sai de lá compreendendo melhor a determinação rara de Winfrey de fazer a diferença para todo mundo – e assombrado em ver o quanto ela ainda consegue realizar essa façanha.
O trechinho com Wonder dura uns quinze segundos na montagem, mas não dá para esquecer. Para começar que expõe um lado adoravelmente normal de uma mulher que, sendo uma apresentadora famosíssima, presumivelmente poderia ter o cantor surgindo de debaixo do palco quando quisesse. E também as mulheres da plateia (milhares delas, brancas e negras) pula, gritam e choram, braços erguidos, por pelo menos uma dúzia de razões diferentes, desde “prêmio da loteria” a “glória a Jesus”. Óbvio que vão à loucura com o cantor, mas talvez tenham ficado ainda mais alucinadas por causa da alegria que ele proporcionou a Winfrey. Aquilo não é bem um culto, mas sim uma rede social viva, barulhenta e simbiótica. Afirmação e intenção se tornaram as bases sólidas da iniciativa “Oprah Winfrey”, a ponto de bastar ela apertar o botão das “curtidas” para que seu vasto fã-clube faça o mesmo.
O programa saiu do ar há sete anos. Winfrey não desapareceu, de forma alguma. Desde o fim de “Oprah”, ela evoluiu para se tornar uma atriz ainda mais instintiva, entre outras coisas. Escreveu livros; é extremamente ativa no Instagram, seu canal de TV a cabo e seu podcast sobre bem-estar, e deu a impressão de estar felicíssima de ter sido convidada para o casamento de Meghan Markle e o príncipe Harry, em maio.
Antes de sair de “Watching Oprah”, você terá analisado uma caixa cheia de fotos de infância, anotações de diário, cartas escritas no colégio e uma cópia autografada de “Eu sei por que o pássaro canta na gaiola”, de Maya Angelou. Terá absorvido a música, os discursos, as imagens e os escritos em uma sala dedicada aos músicos, atores, escritores e movimentos políticos que ajudaram a jovem Oprah a definir o que queria ser. Terá conferido o bom humor do espaço dedicado ao seu desempenho em “A Cor Púrpura”, pelo qual perdeu o Oscar (ela preferiu banhar de bronze o biscoitinho do almoço oferecido aos indicados da Academia) e o que enumera seu trabalho inicial como âncora de notícias, incluindo um clipe de três minutos dela em Baltimore e Chicago, nos anos 70 e 80, em uma das edições mais charmosas já vistas. A certa altura, a jovem Winfrey, de roupa de ginástica, tem que levantar as pernas para fazer um exercício no segmento aeróbico e reclama, irônica, “Ah, vocês vão amar essa tomada.”
Você também terá percorrido a réplica do corredor curto e inclinado por que ela passava para chegar ao palco. Que, aliás, se abre para o ambiente dedicado ao próprio programa – duas poltronas em uma plataforma em frente a um telão que, por sua vez, mostra um filme com seis minutos de destaques. Terá visto a câmera de TV Sony revestida, enorme, quase senciente, os livros de assinaturas dos convidados, a cópia de um dos livros de figurinos e algumas das peças que ela usou, como a blusa preta de gola alta e a calça de couro com que recebeu Tina Turner, o lendário jeans Calvin Klein que vestiu no dia em que, magérrima, exibiu a nova silhueta que assombraria vagamente a atração dali para adiante.
E terá prestado atenção em décadas de estilos de penteado e momentos carregados de emoção, desde os confrontos carregados do que a mostra nos lembra serem o que já foi chamado de “TV da réplica” à era do “melhor de si” – basicamente desde a inspiração que foi às lutas de jaula de Jerry Springer e Maury Povich à exibição do bate-papo original com Iyanla Vanzant, a revelação do gênero de John Gray e o impacto avassalador de seu Clube do Livro. Terá lido na íntegra os dois cartões com perguntas – impressas e escritas à mão, provavelmente pela própria apresentadora – para a primeira conversa com Tom Cruise, depois do constrangimento que foi o ator pulando em seu sofá. (“Você se arrepende de algo que fez nestes últimos três anos?”)
Terá ficado boquiaberto, estático, diante da gigantesca parede onde aparecem impressos, aleatoriamente, os títulos de cada um dos 4.561 programas e a data de exibição, notando que ela parece alcançar uma altura absurda e ilegível. Poderia ser considerado o exame de vista mais sacana de todos os tempos, aliás.
Há muita coisa ali. E você sai boquiaberto com as contradições absurdas que as conquistas de Winfrey revelam sobre os EUA: ali está uma mulher de cor que cresceu na pobreza do Sul segregado para se tornar a primeira bilionária negra do país. Sua prosperidade inspirou o sucesso de muita gente, ainda que “Watching Oprah” não esteja muito longe do grande destaque acadêmico e moral do museu (“A People’s Journey”), uma odisseia avassaladora e mergulho na criação de uma nação a partir da escravidão, do racismo, da revolução, da inovação, do trabalho duro e da sorte. Ela passa a impressão de não saber como conseguiu chegar lá, mas como vários outros compatriotas bem-sucedidos, também mostra em alguns momentos que realmente não acredita tê-lo feito.
É de se questionar se a filosofia integracionista da atração é consequência da criação, educação e treinamento profissional da apresentadora em Milwaukee, Mississippi e Tennessee e a transmissão ser realizada em Baltimore e Chicago. Só geograficamente, Winfrey já é interseccional, o que também explica algumas coisas – como a viagem que o programa fez, em 1987, ao Condado de Forsyth, na Geórgia, depois desse ter se “livrado” de praticamente todos os moradores negros. Ela queria saber qual o problema deles que tanto assustava os moradores brancos – e continua tendo que lembrar aos racistas de seu público que a mulher que os está questionando também é negra.
“Watching Oprah” não privilegia nenhum episódio. Por isso, é difícil, pelo menos logo de cara, entender o que exatamente é tão importante no programa – mas aí você pensa na gigantesca parede de títulos e no fato de ser impossível assimilar tudo. E essa vastidão incompreensível parece perfeitamente correta, tanto em relação à vitalidade duradoura da atração como da mulher que a apresenta.