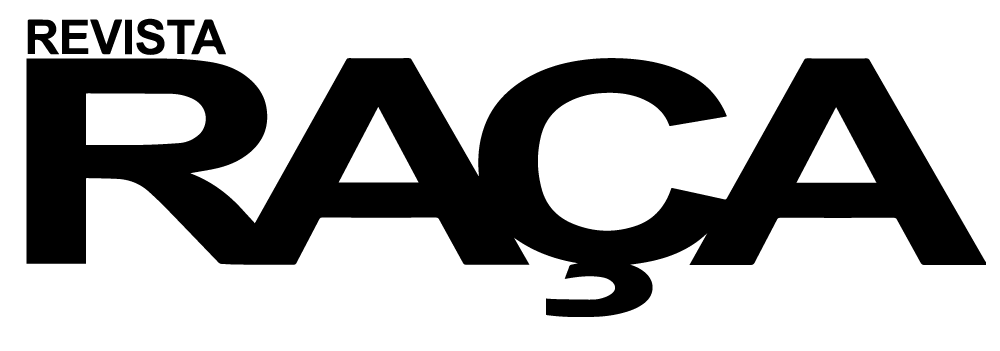“Fazer chapinha era um ritual da cultura das mulheres negras, um ritual de intimidade. Era um momento exclusivo no qual as mulheres (mesmo as que não se conheciam bem) podiam se encontrar em casa ou no salão para conversar umas com as outras, ou simplesmente para escutar a conversa. Era um mundo tão importante quanto à barbearia dos homens, cheia de mistério e segredo.”
Esse trecho do texto “Alisando nossos Cabelos”, da feminista estadunidense bell hooks, relata uma cena que muitas de nós já vivemos: os rituais de embelezamento. Para nós, mulheres negras, o sinônimo de beleza sempre esteve pautado na branquitude, uma vez que na sociedade ocidental ser mulher é ter cabelos longos e lisos, ser magra, ter cintura fina mas com seios volumosos, usar salto alto, unhas grandes e pintadas – elementos também oriundos de culturas européias e que simbolizam sedentarismo, como uma forma de status pela possibilidade de não realizar trabalho braçal – estes, dentre outros elementos de adorno corporal, pouco lembram qualquer traço das culturas de origem africana.
Quando criança tive meus cabelos alisados muito cedo, lembro muito dos salões de “beleza” que frequentava com minha mãe em Santo Amaro – BA, e ali, sentada na fila de espera, olhava ao redor sem entender o propósito de estar ali. No primeiro dia que entrei na escola com os “novos” cabelos, fui tomada por uma imensa vergonha e como uma criança ativa que cursava a quarta série do ensino fundamental, me sentia “velha”, podada. Por muito tempo olhei as fotos com esse visual e ainda podia ouvir minhas inquietações internas. Consegui me livrar disso quando surgiu, na década de 1990, o modismo de usar muito creme para dar efeito molhado aos cabelos, e, no ginásio, tinha o cabelo com os cachos, mas relaxados quimicamente e sem volume por conta do uso de cremes “mágicos”. Os cabelos murchos, contrastavam com grandes óculos de grau de lente fumê e aparelho nos dentes.
Quando ingressei no ensino superior, voltei a escovar os cabelos, e com base nas referências de rock’n roll e música eletrônica que curtia, os cabelos alisados, curtos e coloridos acompanhavam óculos estilosos e roupas estilo clubber – em pleno sertão da Bahia! Todas essas tentativas de adequação se sobrepunham à criatividade que pulsava em minha mente, e com o tempo pude perceber que liberdade e subjetividade eram indissociáveis. A branquitude nos ridiculariza, seja de modo compulsório na reprodução dos rituais de “beleza” em família, ou quando construímos o mínimo de autonomia, isso ainda se reproduz por meio das referências culturais e artísticas que seguimos, sejam num universo dito comercial ou alternativo.
Foi em 2003, depois de alguns anos como integrante do movimento estudantil da UEFS, integrando-me aos debates sobre racismo e outras de nossas lutas que comecei a materializar as mudanças internas. Lembro-me bem, que depois de muitos dias de ocupação da reitoria, durante o auge das nossas reivindicações na universidade, que decidi que nunca mais iria alisar os cabelos. Aquelas técnicas e rituais se mostravam incongruentes com um estilo de vida autônomo e fora do padrão hegemônico, desde a necessidade de dormir nos acampamentos aos atos públicos na rua, o cabelo frágil a qualquer intempérie há muito tempo se mostrava como uma barreira ao próprio fluxo da vida real – desde as aulas de capoeira, academia, as intermináveis raves e festas de música eletrônica que frequentava.
Nas fotos dos meus primeiros desfiles, em 2001, ainda apareço com cabelo alisado e muito tímida, depois percebo que estou passando pelo processo que se chama transição capilar, que é, antes de tudo, uma transição e descoberta identitárias. O cabelo se modifica porque subjetivamente a vida demanda outras ações e reflexões que não cabem mais nos processos de adequação, ao passo que sua existência no mundo também se modifica e isso reverbera interiormente. Cortei o cabelo bem curto em 2003, ao passo em que começava a crescer, eu podia rir da reação das pessoas nas ruas de Feira de Santana, onde morei até concluir a graduação. Ria porque já era consciente do poder do racismo, e tinha consciência de que imprimia naquele momento essa luta na minha imagem e no meu trabalho criativo, que já tinha existência na passarela independente que eu criava, em galerias e na televisão da cidade.
Com o advento das redes sociais, vi muitas mulheres se organizando e redesenhando os rituais de intimidade nesse espaço público|privado que é a internet. Nessa tendência crescente, muitos grupos também trouxeram para as rodas de debate esse assunto e passei a receber convites para falar ou gravar entrevistas, mas com o choque geracional de quem nunca ouviu termos como big chop ou cachos B1 ou C3. Como sobrevivente de uma época com pouquíssimas referências de mulheres negras como espelho do que gostaria de ser, fui me constituindo de modo autônomo e tentando sensibilizar outras mulheres, oferecendo inclusive o corte de cabelo que aprendi a fazer junto com minha mãe, também como estratégia para não precisar pisar nos salões de “beleza”. Um dos resultados foi acompanhar orgulhosa a transição capilar de minha mãe e de outras familiares e amigas, e, consequentemente, o renascimento de sua beleza e autonomia.
Recentemente fui assistir as discussões do evento Fuxicos Futuros, em Salvador, organizado por um grupo potente de mulheres negras artivistas e conheci a performer de Val Souza e seu trabalho intitulado TRANSIÇÃO Performance / instalação, 2017. Em pé, a artista abre o pote de creme de 1 quilo, derrama sobre sua cabeça e corpo. Massageia o creme sobre seu corpo como se quisesse grudá-lo em si. Repete a ação com todos os potes. Utiliza o creme derramado no chão como um mar e nada e desliza sobre ele.
Com o coração pulsando no resgate mediado das memórias aqui descritas, o cheiro do creme de “massagem capilar” me lembrou as muitas horas que passava em casa, lendo revistas de moda onde só apareciam mulheres brancas e copiando receitas na tentativa de “melhorar” o cabelo. Tristes e fortes memórias que aquela performance trouxe à tona, desde o banho de creme vendido em enormes potes à expressão de felicidade no rosto da atriz, elementos que me colocaram no lugar dela, como uma mulher negra vilipendiada pela branquitude, que foi adestrada pela sua cultura a significar autocuidado como conjunto de técnicas de embranquecimento e algumas vezes em quase mutilação. Técnicas cosméticas como o alisamento químico que já provocou queimaduras e de modo antagônico à cara de felicidade ao balançar os cabelos. A felicidade mesmo é poder, hoje, passar por essa experiência como espectadora da performance, com o privilégio de ter consciência crítica dos seus significados e na esperança de que a nova geração – que já se orgulha muito do seu black power desde muito pequena – não mais reproduza isso.
*Nascida em São Paulo, Val Souza é mestranda pela Universidade Federal da Bahia, pesquisadora e performer, desenvolve trabalhos onde seu corpo é a principal ferramenta.
Para conhecer mais de seus trabalhos, acesse:
https://www.instagram.com/performervalsouza







CAROL BARRETO
Mulher Negra, Feminista e como Designer de Moda Autoral elabora produtos e imagens de moda a partir de reflexões sobre as relações étnico-raciais e de gênero. Professora Adjunta do Bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidade – FFCH – UFBA e Doutoranda no Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade – IHAC – UFBA, pesquisa a relação entre Moda e Ativismo Político.
*Este artigo reflete as opiniões do autor. A Revista Raça não se responsabiliza e não pode ser responsabilizada pelos conceitos ou opiniões de nossos colunistas