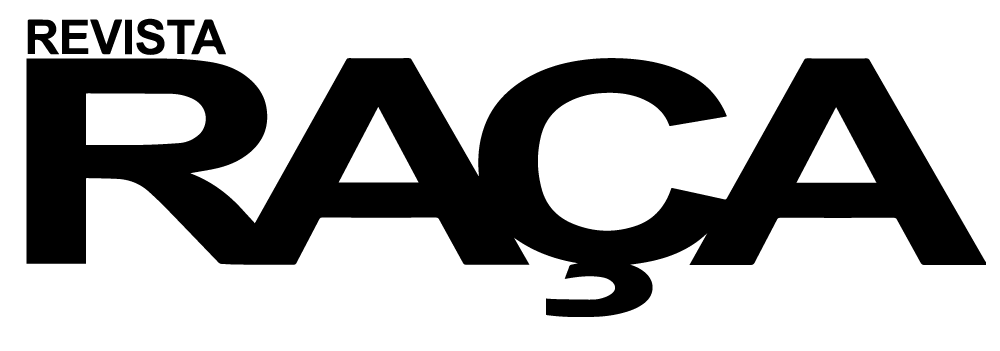Na coluna “Raízes Curtas”, Oswaldo Faustino conta a história da pintora brasileira, Maria Auxiliadora da Silva
TEXTO: Oswaldo Faustino | FOTOS: Divulgação | Adaptação web: David Pereira

Na vitrine de uma galeria de arte em Paris, uma tela repleta de cores retrata uma festa de candomblé, com pessoas cantando, tocando atabaques e dançando. O dono da galeria diz o preço ao cliente, uma quantia repleta de zeros que a autora jamais imaginaria receber por todos os 39 anos que viveu. O marchand francês explica que a obra, com traços quase infantis, está na fronteira entre o naif (primitivismo) e a arte bruta, fora do condicionamento cultural e do conformismo social, e foi produzida por uma artista brasileira genial, exaltada pela crítica internacional, que morreu nos anos 70. O que ele não disse, por não saber, é que pintar foi a forma encontrada por Maria Auxiliadora da Silva para pôr cores vivas em sua própria vida acinzentada.
A pintora mineira, de Campo Belo, filha mais velha de uma lavadeira (que nas horas vagas bordava e esculpia em madeira) com um trabalhador braçal em ferrovia, nasceu em 1935 e cresceu numa família de 18 irmãos. Entre a obrigação de tingir as linhas que a mãe usava para bordar e os desenhos que fazia em carvão nas paredes de madeira da casa, ia descobrindo os tons do colorido e uma forma de se relacionar com o mundo através de imagens. Mudar para São Paulo não melhorou muito a qualidade de vida daquela família enorme, mas deu à Auxiliadora a oportunidade de vivenciar a efervescência artística que, nos anos 60, girava em torno do poeta, teatrólogo e agitador cultural, Solano Trindade, numa cidadezinha próxima da capital, que foi rebatizada de Embu das Artes.

Tendo cursado apenas até o segundo ano primário – muito mais tarde fez o Mobral –, de saúde frágil e trabalhando de empregada doméstica, ela fez da pintura seu canal de realização existencial. Tinha 32 anos, em 1964, quando decidiu pintar profissionalmente. Seus quadros eram uma espécie de diário, onde registrava as lembranças do trabalho na roça, cenas familiares, as festas, o candomblé e os folguedos populares. Moldava figuras em gesso e as colocava na composição pictórica. Às vezes legendava a imagem e desenvolveu uma forma muito pessoal de se comunicar por meio de seus quadros, que eram cobrados não pelo tamanho, como faziam outros artistas, mas pelo tempo que demorou produzindo ou por seus próprios critérios emocionais. Integrou a geração que implantou, no início dos anos 70, as “feiras hippies” na Praça da República, em São Paulo, e no Embu. Descoberta pelo físico e crítico de arte, Mário Schemberg, fez sua primeira exposição individual no consulado dos Estados Unidos. E o mundo das artes se rendeu ao vigor e à simplicidade de suas obras, mas logo voltou seus olhos para outras novidades.
O câncer generalizado lhe corroía o corpo e ela tentava combatê-lo pintando. Imprimia na tela seu tormento e sua expectativa de passar a eternidade entre anjos. Depois de várias cirurgias, faleceu em 1974. Suas pinturas, produzidas em apenas sete anos de vida, estão em museus, galerias e em importantes coleções no Brasil e fora dele. Sob o travesseiro, na cama em que morreu, havia uma obra inacabada. Pintou até os últimos instantes, jamais se acomodou diante da miséria ou da dor.
Quer ver essa e outras matérias da revista? Compre essa edição número 167.