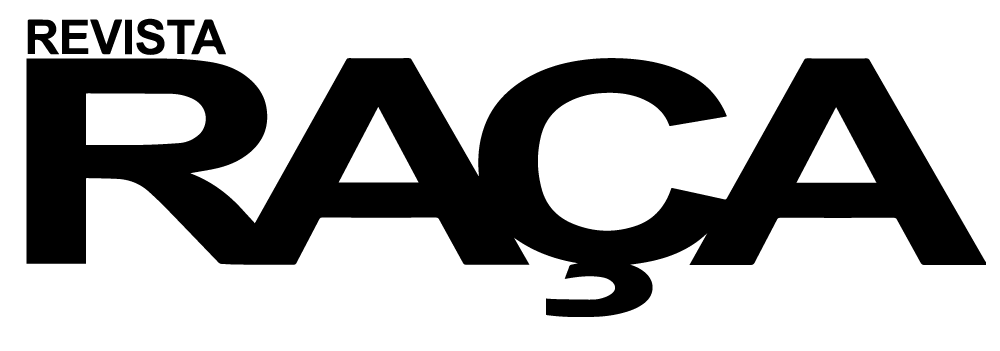Começou mais uma edição da casa mais vigiada do país e, olha… talvez tenha mesmo voltado às origens. Não aquelas que a gente gosta de celebrar, mas as que insistem em nos lembrar que a televisão brasileira ainda tem muita dificuldade em lidar com a diversidade racial como algo normal — e não como exceção cuidadosamente calculada.
Entre 20 participantes, apenas 5 são pessoas negras. Ou seja, 25% da casa. Percentual que, curiosamente, nunca parece causar espanto quando se repete ano após ano. Afinal, se tem “alguns”, já estaria resolvido, não é mesmo? Como se representatividade fosse um item decorativo: coloca ali no canto da sala, dá uma olhada rápida e segue o jogo.
E bastou a primeira noite de reality para o roteiro se repetir com a precisão de um relógio suíço: surge, com força total, a pauta do “racismo reverso”. Sim, ele mesmo. O conceito que só aparece quando pessoas negras existem, falam, vencem uma prova ou, pior ainda, ocupam espaço de protagonismo. É impressionante como, em um país estruturado historicamente pelo racismo, o grande medo ainda seja o de que, em algum momento, o jogo “fique injusto” para quem sempre esteve no centro.
É quase cômico — se não fosse trágico — observar como a simples presença de participantes negros já provoca desconforto suficiente para levantar teorias conspiratórias dignas de ficção científica. Cinco pessoas negras em uma casa majoritariamente branca e, ainda assim, há quem enxergue privilégio. Privilégio de quê? De existir em rede nacional?
O Big Brother Brasil, que gosta de se vender como um espelho da sociedade, acaba refletindo exatamente aquilo que muitos preferem não encarar: a naturalização da branquitude como padrão. Quando a casa é branca, ninguém comenta. Quando há diversidade — mesmo que mínima — o debate vira “militância”, “agenda”, “exagero”.
Talvez o problema não seja o número de pessoas negras no BBB, mas o quanto ainda incomoda vê-las ali sem pedir licença, sem agradecer o convite e sem ocupar apenas o papel de figurante simpático. Porque, no fundo, o Brasil ainda se sente mais confortável assistindo a um Big Branco Brasil, onde a desigualdade não precisa ser discutida — apenas reproduzida, com edição caprichada e trilha sonora animada.
Enquanto isso, seguimos assistindo, comentando e, claro, ouvindo que o problema é “mimimi”. Porque, aparentemente, questionar a falta de representatividade continua sendo mais grave do que a própria falta dela.