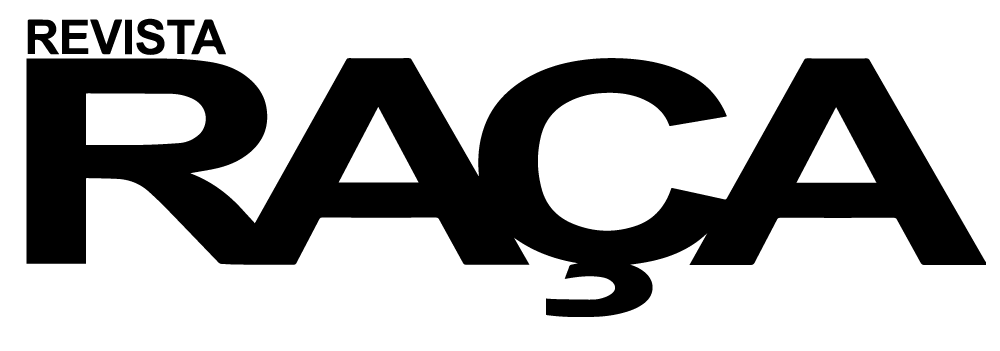Na coluna de Oswaldo Faustino, saiba mais sobre a tradição de acender velas na capela da Santa Cruz das Almas dos Enforcados, em São Paulo
TEXTO: Oswaldo Faustino | FOTO: Roseli Machado | Adaptação web: David Pereira

FOTO: Roseli Machado
Nos anos 60 e 70, ali onde hoje é a estação Liberdade, do Metrô, havia uma praça arborizada que ficava em frente à famosa capela da Santa Cruz das Almas Enforcadas em estilo barroco. Ali, se fazia o footing – os rapazes ficavam parados na calçado do entorno e as meninas, em grupos, caminhavam dando voltas, até dar o horário para irem embora. Um “ritual” aproveitado para distribuir as filipetas dos eventos que aconteceriam no fim de semana seguinte. Naquela igreja, em frente, muitos mantinham e mantém viva, ainda hoje, a devoção de acender velas “às santas almas”, às segundas feiras de cada semana. Mas a maioria não sabia o porquê de tal tradição.
Aquele espaço já se chamou “Campo da Forca” e era onde se executavam todos os condenados à morte, na cidade. O enterro dos executados acontecia alguns metros abaixo, no Cemitério dos Aflitos – na região onde atualmente fica a rua dos Estudantes. Ele era reservado aos párias da sociedade: tanto aos escravizados falecidos em qualquer circunstância, quanto aos condenados à morte, na maioria, negros, muitos por terem se envolvido em rebeliões. Nesse cemitério havia uma capelinha, que está lá até hoje, no final de um beco, dedicada a Nossa Senhora dos Aflitos. Tal lembrança me foi trazida pelo amigo teólogo Guilherme Botelho Júnior.
A caminho do suplício – Não foi à toa que o patíbulo – local dos enforcamentos – foi armado no alto daquele morro, próximo às moradias de negros e pobres. As execuções, além do caráter punitivo, tinham a função de controle social. Serviam para desestimular qualquer ação contrária aos interesses da elite da época. A partir de 1802, quando se inaugurou a Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte, na esquina da rua do Carmo, ali se fazia uma parada para uma última oração – quem sabe viesse o milagre da clemência do rei de Portugal ou do príncipe! –, para só depois seguirem rumo ao enforcamento. Esses foram os últimos passos de dois militares negros: o cabo Francisco José das Chagas, o Chaguinhas ou Chaguinha, e o praça José Joaquim Cotindiba, no dia 20 de setembro de 1821. Na noite de 28 para 29 de junho do mesmo ano (quando se festejava São Pedro), eles lideraram um motim, no quartel do Primeiro Batalhão de Caçadores, em Santos. Os motivos eram dois: aos militares brasileiros era destinado um soldo muito inferior ao dos soldados portugueses; e, mesmo assim, há cinco anos, eles não recebiam o pagamento. A revolta se estendeu para o cais do porto, onde estava ancorada uma fragata lusitana. Os amotinados a invadiram. Houve resistência e um oficial português foi morto. Derrotados, alguns brasileiros foram condenados à prisão, outros à extradição e os dois líderes, à morte.
Enviados a São Paulo para a execução, eles permaneceram no “corredor” até o dia da execução. O Campo da Forca estava lotado, naquele 20 de setembro, e tinha até algumas personalidades ilustres como o Padre Diogo Antônio Feijó, mais tarde ministro da Justiça e regente durante a minoridade do príncipe Pedro II. Como laço no pescoço, Cotindiba ouviu a leitura de sua sentença. Um forte ruído, denunciou a abertura do alçapão e seu corpo ficou dependurado, diante da multidão arrepiada. Seu cadáver foi retirado e a cabeça cortada.
Chegou então a vez de Chaguinha. A mesma corda feita com uma boa quantidade de barbantes trançados – pois se carecia de cordas de linho, mais propícias – foi-lhe colocada ao pescoço. Durante a leitura, iniciaram-se alguns apupos. O assoalho se abriu sob seus pés. Com o baque, a corda arrebentou e o condenado estatelou-se no chão. O povo estupefato viu no rompimento da corda uma manifestação divina contra um ato de injustiça. “Milagre! Milagre!”, bradou a turba. Já nesse tempo se acreditava que Deus é brasileiro. Em condições normais, o acontecido levaria à comutação da pena. Porém, o juiz, que estava presente, ordenou ao carrasco que trocasse aquela corda fraca por uma feita com tiras de couro cru.
E um novo laço foi feito em torno do pescoço do Chaguinha. Dado o sinal, o carrasco fez o alçapão se abrir e – pasme! – o couro arrebentou também e novamente o condenado foi ao chão. Os berros agora eram de “Liberdade! Liberdade! Liberdade!”. Para as autoridades presentes, ao contrário da fé popular, o que ocorria era sabotagem ou um atestado de incompetência, que colocava em risco o temor de que necessitavam. A partir dali, era questão de honra: novo enforcamento com uma mistura de barbantes trançados e o couro. O laço não foi capaz de sufocá-lo enquanto permaneceu dependurado e seguiu-se um novo rompimento, com queda do corpo moribundo. A despeito do clamor popular, um oficial terminou o serviço, matando-o a porretadas e também lhe cortaram a cabeça, em seguida.
Colocada em dois caixotes cheios de sal, as cabeças de ambos ficaram em exposição por um longo período, como um alerta aos que pensassem em se insurgir contra o poder real e os privilégios dos portugueses. O que não se conseguiu conter, porém, foi a certeza popular de que o ocorrido no enforcamento de Chaguinha foi um sinal divino de sua inocência. Por isso, num canto do Campo da Forca se plantou uma cruz de madeira e à sua volta, cada vez mais, crescia a quantidade de velas acesas que “nem os ventos, nem a chuva conseguiam apagar”, segundo uma publicação abolicionista da época. Por esta razão, destinou-se um bom espaço para o velário na nova capela, que só foi inaugurada em 1891. Mesmo não sabendo dessa origem, ali, durante os anos 1960 e 1970, funcionou uma importante rede social negra em que, para além das paqueras e convites para os bailes, aproveitava-se para iniciar uma conversa que resultou no fortalecimento da luta, hoje institucionalizada, de conscientização de nossa gente negra.
Quer ver esta e outras matérias da revista? Compre esta edição número 179.