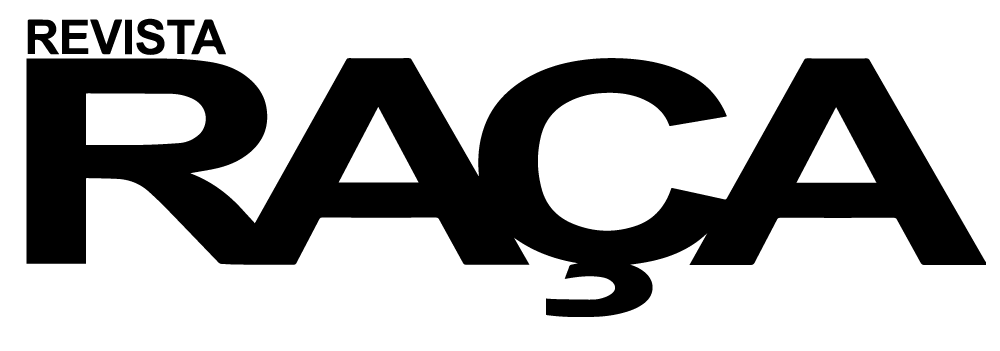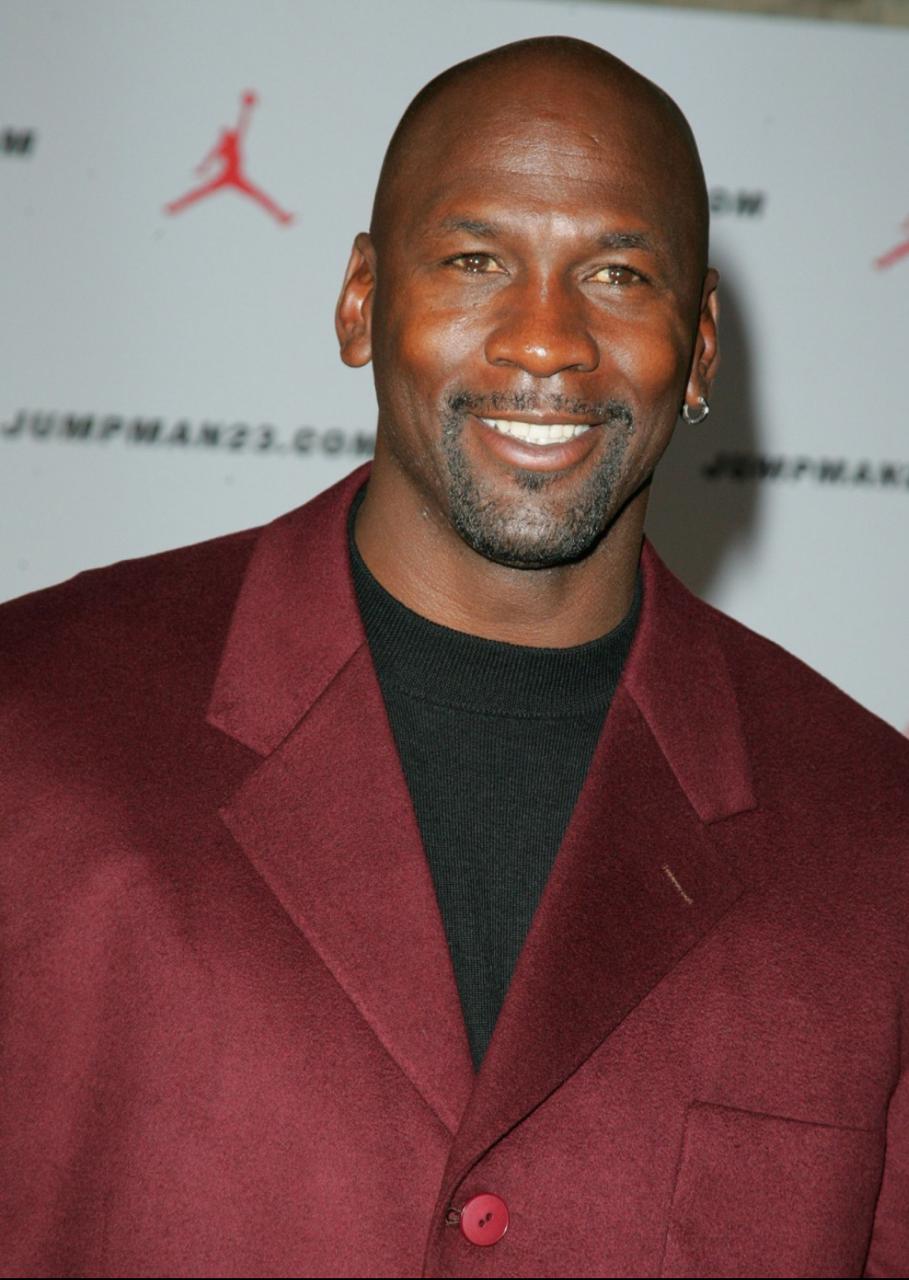Confira a crítica do filme 12 Anos de Escravidão feita pela Revista Raça
TEXTO: Redação | FOTOS: Divulgação | Adaptação web: David Pereira

Sul dos Estados Unidos, 1853, antes da Guerra Civil que libertaria os escravizados. Um homem recém-fugido de uma fazenda escravocrata conta a um jornalista sua trajetória: de homem livre a sequestrado, de refém a fugitivo, até recuperar a própria vida. Por 12 anos, viveu o inferno na Terra, na região de Louisiana, sofrendo torturas físicas e psicológicas e sendo obrigado a trabalhar para sobreviver. Ele era negro.
Essa é a história compilada em “12 Anos de Escravidão”, filme do diretor Steve McQueen que reconstrói no cinema a biografia do afroamericano Solomon Northup. Baseado no depoimento do próprio Northup, documentado 160 anos atrás, o longa-metragem de 2 horas e 13 minutos chegou ao Brasil em 28 de fevereiro, depois de ter estreado no Festival de Telluride e ser ovacionado por longos minutos. Entre a primeira projeção e seu lançamento por aqui, foi unanimidade de crítica também no Festival de Toronto, no Festival de Cinema de Nova Iorque e no da Filadélfia.
Na premiação do Globo de Ouro, em janeiro, chegou a ser indicado em sete categorias diferentes (Melhor Diretor, Melhor Ator Dramático, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Trilha Original e Melhor Filme), das quais ganhou a de Melhor Filme. Em março, ganhou o prêmio de melhor filme no Oscar.
A comoção geral em torno do filme se dá por mais de um motivo. O mais óbvio é seu gosto pela violência crua, que suscita comparações até com “A Paixão de Cristo”, de Mel Gibson. Apesar de não colocá-la no centro da história, McQueen retrata de maneira honesta – talvez honesta demais – as provações sob as quais eram colocados os negros da época, com direito a cenas de chicoteamento bastante intensas e assassinatos a sangue frio pelos mínimos motivos. Não é um filme para os fracos de coração, especialmente acompanhado pela trilha sonora estridente de Hans Zimmer.
Felizmente, os momentos macabros de tortura não são gratuitos, mas moldura para retratar a vida de um homem cuja liberdade é tirada, mas não a dignidade. Embora Northup, vivido com extremo talento pelo ator Chiwetel Ejiofor (“Amistad”, “Filhos da Esperança”), seja forçado a trabalhar numa plantação para o sádico senhor de terras Edwin Epps (Michael Fassbender, de “X-Men: Primeira Classe”), ele nunca perde de vista que não pertence àquele mundo. Ao encontrar, por força do destino, o advogado Samuel Bass (Brad Pitt), os dois se aliam para reconstruir a vida de Northup, numa batalha judicial importante para sua época.
A história dá a Chiwetel Ejiofor a chance de revelar todo o poder de sua atuação, normalmente reservada a papéis secundários de Hollywood. Em cenas longas, ele se mostra capaz de capturar quem assiste com emoções confusas, misturadas, que vagam entre o desespero de estar acorrentado para o estado de acomodação, apenas para voltar com fúria e violência segundos depois. Entre elas, memórias o mostram como homem livre, autoconfiante, em roupas finas que soam irônicas diante do que o aguarda. Uma sequência o mostra paralisado diante da morte de um amigo, mudo, e sua lenta transição para o espírito de tristeza absoluta, lágrimas caindo. É um papel de grande flexibilidade que Ejiofor carrega com talento.

Ajuda-o, também, o fenomenal time de estrelas que o cercam, em especial sua parceria em tela com Michael Fassbender. Como seu proprietário, sádico e ardiloso, Fassbender é a fera perfeita, o aterrorizante bárbaro não-reprimido. Da perspectiva atual, seria considerado um psicopata de primeira linha, pronto para explodir no primeiro esbarrão. Mas não naquela época. Quando os dois estão juntos em tela, a audiência sabe o que esperar: a mais perfeita sensação de vida-por-um-fio que um filme sobre a escravidão já conseguiu retratar. É um papel que irá marcar sua carreira.
Reconstruindo a história
Este é o terceiro longa-metragem do diretor Steve McQueen, que parece ter uma paixão por filmes de temática social. Seus outros dois foram “Vergonha” e “Fome”, também muito impactantes. Com “12 Anos de Escravidão”, ele tenta escapar da linguagem documentarista e aprofundar a história da escravatura negra com uma abordagem o mais realista possível, ainda que dramatizada. O filme já foi concebido nessa mentalidade: depois de conhecer o roteirista John Ridley, ao longo da produção de “Fome”, McQueen gastou com ele quase três anos apenas discutindo como fariam um filme sobre “a era escrava na América”. O nó se desfez apenas quando sua esposa, por puro acaso, encontrou o livro homônimo de memórias de Solomon Northup. Era o olhar que faltava: o testemunho registrado de um homem negro livre, da época, sobre a experiência de ter sua humanidade roubada.
A partir daí, a dupla montou uma equipe especializada, em que diretor de fotografia e figurinista foram encarregados de reconstruir a estética da época. As gravações contaram, no final, quatro locais originais de plantações escravagistas e mais de mil trajes da época. Para reforçar o realismo, contrataram até mesmo um professor universitário especializado em dialetos, Michael Buster, cuja presença alterou bastante o modo como os personagens se portam e falam no decorrer do filme. Para recriar o sotaque dos escravos, que não foi documentado, ele fez uma aposta ousada: misturou o sotaque dos idosos da Louisiana com o modo de falar de uma colega queniana, cujo inglês é ainda carregado com os modos de falar africanos.
O cuidado estético, misturado à veracidade que só uma testemunha ocular poderia trazer, torna essa produção uma obra-mestra dos dramas de escravidão. O gênero passa por um momento de ressurgência – basta lembrar de “Django Livre” e “O Mordomo da Casa Branca”, em 2013 -, mas enquanto outros tentam focar no aspecto da violência ou da política daquele período da história americana, “12 Anos de Escravidão” busca retratar a humanidade de quem carregava os grilhões. Ele coloca os atores em close-up desconfortáveis, os foca nos olhos, deixa cenas longas e silenciosas de alívio entre os episódios de abuso, dá vazão a uma nudez sem erotismo.
O grande cineasta russo Andrei Tarkovsky disse à mídia uma vez que “a arte existe para atormentar e virar a mente humana para a bondade”. Dita em outra época e outro contexto, a frase não poderia ser mais verdadeira, se aplicada à nova obra de McQueen: ela maltrata e machuca quem a assiste quase tanto quanto os personagens na tela, mas os torna melhores por isso. E ajuda, um pouquinho mais, a fechar a ferida dos 300 anos da escravidão.
Quer ver essa e outras matérias da revista? Compre essa edição número 187.